Questões de Concurso Público Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ 2016 para Fiscal de Transportes Urbanos
Foram encontradas 80 questões
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Em observância à correta concordância verbal, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
A preposição sob, empregada corretamente na frase, NÃO deve preencher a lacuna de:
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
O verbo justificar encontra-se flexionado na voz passiva sintética, assim como a forma verbal da seguinte frase:
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.
Texto: Na canoa do antropólogo
A malária e o sol escaldante pontuaram a traumática experiência do jovem antropólogo que, entre os aweti, no Xingu, em 1971, fazia sua pesquisa de mestrado. Deitada “em um lago de sangue”, a índia foi declarada morta pelo pajé, enquanto seu bebê recém-nascido chorava perto do fogo. A criança, esclareceu um índio, seria enterrada viva junto com a mãe, enquanto as labaredas terminariam de consumir a oca e os pertences da falecida. Diante disso, consumido pela febre, o antropólogo agarrou o bebê e, auxiliado por sua mulher grávida, uma estudante universitária de antropologia, protegeu-o por dois dias em sua rede, à espera da canoa que os levaria ao posto indígena.
Deve-se violar uma prática tradicional em nome do princípio da vida? Essa pergunta, a mesma que atormenta até hoje o antropólogo George Zarur, um amigo dileto, ressurge sob outra forma na polêmica sobre o Projeto de Lei 1.057, destinado a coibir o infanticídio entre os índios. À primeira vista, o dilema envolve os conceitos de cultura e direitos humanos.
Numa canoa remada por índios remunerados por contas de colares, ao longo de 12 horas, o casal de antropólogos abrigou a criança “da chuva, do sol e dos ramos da beira dos canais que unem a aldeia Aweti ao Posto Leonardo Villas-Boas”. Finalmente, Marina Villas-Boas recolheu o indiozinho desidratado e o encaminhou para adoção. [...] O PL 1.057 ganhou a alcunha de Lei Muwaji para celebrar a índia amazonense Muwaji Suruwahá, que enfrentou sua tribo a fim de salvar a vida da filha nascida com paralisia cerebral.
[...] O infanticídio indígena vitima gêmeos e crianças cujas mães são solteiras ou morreram no parto, assim como as que nascem com deficiências. Na origem da norma encontram-se as estratégias de sobrevivência de grupos humanos acossados permanentemente pela escassez. Nesse contexto, o leite materno e os cuidados com os recém-nascidos são bens limitados e, portanto, valiosos. Há lógica na prática do infanticídio, mas isso não é motivo para perenizá-la.
A unidade indissolúvel entre mãe e filho, na vida e na morte, justifica-se sob a premissa do modo de vida tradicional. Mas o cenário altera-se por completo na hora em que o grupo indígena passa a interagir com a sociedade moderna circundante, que assume a obrigação de prover-lhe serviços essenciais de saúde, inclusive leite para os recém-nascidos, vacinação e tratamentos médicos.
O PL 1.057 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. Há quem a classifique como instrumento de criminalização dos índios. Mas, a Lei Muwaji diz que o dever das autoridades é demover o grupo indígena, “sempre por meio do diálogo”, da persistência na prática do infanticídio, protegendo a criança pela “retirada provisó- ria” do convívio do grupo antes de seu encaminhamento a programas de adoção. Além disso, obviamente, ela não cancela o princípio jurídico da inimputabilidade do indígena, que impede a criminalização de atos derivados da observância de normas entranhadas na tradição do grupo. Na verdade, ao estabelecer a obrigação de comunicar o risco da eliminação de crianças, o PL 1.057 não criminaliza os índios, mas os agentes públicos que, pela omissão deliberada, acobertam violações ultrajantes dos direitos humanos.
Eu, que não tenho religião, enxergo nessa crítica preconceituosa um outro tipo de fundamentalismo: a veneração da cultura como um totem imemorial. E, como tantos outros, religiosos ou não, prefiro ver na canoa que salvou o indiozinho do Xingu uma metáfora para o diálogo entre culturas.
Demétrio Magnoli. O Globo, 22/10/2015. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/nacanoa-do-antropologo-17842818#ixzz3xSXXFoDB. Adaptado.

Pela especificação indicada, conclui-se que essa impressora apresenta a seguinte funcionalidade:
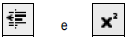 tem,
respectivamente, as seguinte finalidades:
tem,
respectivamente, as seguinte finalidades: