Questões de Concurso
Para cetro
Foram encontradas 6.962 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Meios de transporte Representação decimal
Ônibus 0,18
Automóvel 0,37
Bicicleta 0,20
A pé 0,25
Com base nesses dados, é correto afirmar que o número total de alunos pesquisados que foram à escola de bicicleta ou a pé é
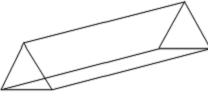
Tereza precisa construir uma dessas embalagens. Assinale a alternativa que apresenta uma possível planificação desse sólido.
Não foram poucos os cineastas que filmaram o levante das máquinas contra o Homem. Em “2001 - Uma Odisseia no Espaço”, o computador HAL se cansava de computar e partia pra um motim solitário, dominando a nave com sua melancólica agressividade.
Em “Blade Runner”, androides superinteligentes saíam matando quem fosse preciso, em busca de uma recarga que estendesse seus curtos dias sobre a Terra. Em “O Exterminador do Futuro”, os robôs se davam conta de que já não precisavam mais da gente pra passar WD-40 nas juntas e, sem muita explicação, resolviam nos eliminar do planeta. Nos três casos, o embate se dava no futuro distante e o pega pra capar (ou pra desparafusar) era explícito.
Ninguém percebeu que o golpe das engrenagens já estava em marcha - e na surdina - há mais de cem anos. E como perceberia? Que mente anticlimática criaria filme tão triste em que os humanos seriam dominados não por gigantescos computadores, por replicantes perfeitos ou robôs soltando mísseis pelas ventas, mas por este aparelhinho ridículo chamado telefone?
Agora, olhando pra trás, tudo faz sentido; quase podemos ouvir o ruído da nossa liberdade sendo sugada, pouco a pouco, pelos furinhos do bucal. Ora, uma geringonça que permite que você seja encontrado em casa, a qualquer momento, por qualquer pessoa, só podia estar mal-intencionada.
Eis o plano inicial do telefone: jogar uns contra os outros, deixando os funcionários sob o controle dos chefes, as sogras próximas das noras, as ex-namoradas a poucos cliques dos bêbados; os chatos experimentaram um salto no poder de alcance inédito desde a invenção da roda.
Felizmente, enquanto o inimigo estava preso à parede, como um cão à coleira, ladrava, mas não mordia. Bastava sair de casa e o cidadão tornava-se inatingível. Ah, as novas gerações não conhecem o Éden perdido! “Onde está fulano?”, “Saiu”, “Pra onde?”, “Não sei” - e lá ia você com as mãos no bolso, assoviando, livre para beber sua cerveja no bar, para jogar boliche em Mongaguá ou fazer amor em Guadalupe.
Incapaz de nos seguir por aí, a máquina recrutou capangas: secretárias eletrônicas que esperavam o incauto cidadão voltar de suas errâncias para, como bombas-relógio, explodir afazeres, cobranças e más notícias. Bipes que, como drones, podiam bombardear um dos nossos em qualquer canto do globo.
Mesmo com bombas e drones, no entanto, até uns 20 anos atrás, ainda era possível escapar, não ouvir os recados, viver sem bipe. Então veio o golpe mortal, assustador como Daryl Hannah piruetando em direção ao Caçador de Androides, traiçoeiro como o dedo-espeto de mercúrio do Exterminador: o celular.
O verdugo não estava mais apenas em nossos lares: morava em nosso corpo. Não só falava e ouvia como fotografava, filmava, enviava cartas, bilhetes, contas, planilhas, demitia funcionários, terminava casamentos, passava clipes do Justin Bieber, sermões do Edir Macedo e oferecia promoções de operadoras às 8h11 da manhã de domingo.
Lá por 2017, o celular já era ubíquo. Pelas ruas e ônibus, pelas escolas e repartições, parques e praias, só se via o ser humano curvado, de cabeça baixa, servil como cachorrinho a babar sobre as telas de cristal líquido, para onde quer que se olhasse - mas quem olhava?
PRATA, A. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. C2. 12 jan. 2014. Adaptado.
I. A pergunta final do texto “mas quem olhava?” colabora para a criação de um clima de mistério.
II. No último parágrafo do texto, a mudança de “o ser humano” para “seres humanos” tornaria obrigatória a flexão do verbo “ver” no plural.
III. O título do texto não só guarda relação com a temática neste abordada, mas também se relaciona com a opinião do autor a respeito do tema tratado.
É correto o que se afirma em
Não foram poucos os cineastas que filmaram o levante das máquinas contra o Homem. Em “2001 - Uma Odisseia no Espaço”, o computador HAL se cansava de computar e partia pra um motim solitário, dominando a nave com sua melancólica agressividade.
Em “Blade Runner”, androides superinteligentes saíam matando quem fosse preciso, em busca de uma recarga que estendesse seus curtos dias sobre a Terra. Em “O Exterminador do Futuro”, os robôs se davam conta de que já não precisavam mais da gente pra passar WD-40 nas juntas e, sem muita explicação, resolviam nos eliminar do planeta. Nos três casos, o embate se dava no futuro distante e o pega pra capar (ou pra desparafusar) era explícito.
Ninguém percebeu que o golpe das engrenagens já estava em marcha - e na surdina - há mais de cem anos. E como perceberia? Que mente anticlimática criaria filme tão triste em que os humanos seriam dominados não por gigantescos computadores, por replicantes perfeitos ou robôs soltando mísseis pelas ventas, mas por este aparelhinho ridículo chamado telefone?
Agora, olhando pra trás, tudo faz sentido; quase podemos ouvir o ruído da nossa liberdade sendo sugada, pouco a pouco, pelos furinhos do bucal. Ora, uma geringonça que permite que você seja encontrado em casa, a qualquer momento, por qualquer pessoa, só podia estar mal-intencionada.
Eis o plano inicial do telefone: jogar uns contra os outros, deixando os funcionários sob o controle dos chefes, as sogras próximas das noras, as ex-namoradas a poucos cliques dos bêbados; os chatos experimentaram um salto no poder de alcance inédito desde a invenção da roda.
Felizmente, enquanto o inimigo estava preso à parede, como um cão à coleira, ladrava, mas não mordia. Bastava sair de casa e o cidadão tornava-se inatingível. Ah, as novas gerações não conhecem o Éden perdido! “Onde está fulano?”, “Saiu”, “Pra onde?”, “Não sei” - e lá ia você com as mãos no bolso, assoviando, livre para beber sua cerveja no bar, para jogar boliche em Mongaguá ou fazer amor em Guadalupe.
Incapaz de nos seguir por aí, a máquina recrutou capangas: secretárias eletrônicas que esperavam o incauto cidadão voltar de suas errâncias para, como bombas-relógio, explodir afazeres, cobranças e más notícias. Bipes que, como drones, podiam bombardear um dos nossos em qualquer canto do globo.
Mesmo com bombas e drones, no entanto, até uns 20 anos atrás, ainda era possível escapar, não ouvir os recados, viver sem bipe. Então veio o golpe mortal, assustador como Daryl Hannah piruetando em direção ao Caçador de Androides, traiçoeiro como o dedo-espeto de mercúrio do Exterminador: o celular.
O verdugo não estava mais apenas em nossos lares: morava em nosso corpo. Não só falava e ouvia como fotografava, filmava, enviava cartas, bilhetes, contas, planilhas, demitia funcionários, terminava casamentos, passava clipes do Justin Bieber, sermões do Edir Macedo e oferecia promoções de operadoras às 8h11 da manhã de domingo.
Lá por 2017, o celular já era ubíquo. Pelas ruas e ônibus, pelas escolas e repartições, parques e praias, só se via o ser humano curvado, de cabeça baixa, servil como cachorrinho a babar sobre as telas de cristal líquido, para onde quer que se olhasse - mas quem olhava?
PRATA, A. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. C2. 12 jan. 2014. Adaptado.
Não foram poucos os cineastas que filmaram o levante das máquinas contra o Homem. Em “2001 - Uma Odisseia no Espaço”, o computador HAL se cansava de computar e partia pra um motim solitário, dominando a nave com sua melancólica agressividade.
Em “Blade Runner”, androides superinteligentes saíam matando quem fosse preciso, em busca de uma recarga que estendesse seus curtos dias sobre a Terra. Em “O Exterminador do Futuro”, os robôs se davam conta de que já não precisavam mais da gente pra passar WD-40 nas juntas e, sem muita explicação, resolviam nos eliminar do planeta. Nos três casos, o embate se dava no futuro distante e o pega pra capar (ou pra desparafusar) era explícito.
Ninguém percebeu que o golpe das engrenagens já estava em marcha - e na surdina - há mais de cem anos. E como perceberia? Que mente anticlimática criaria filme tão triste em que os humanos seriam dominados não por gigantescos computadores, por replicantes perfeitos ou robôs soltando mísseis pelas ventas, mas por este aparelhinho ridículo chamado telefone?
Agora, olhando pra trás, tudo faz sentido; quase podemos ouvir o ruído da nossa liberdade sendo sugada, pouco a pouco, pelos furinhos do bucal. Ora, uma geringonça que permite que você seja encontrado em casa, a qualquer momento, por qualquer pessoa, só podia estar mal-intencionada.
Eis o plano inicial do telefone: jogar uns contra os outros, deixando os funcionários sob o controle dos chefes, as sogras próximas das noras, as ex-namoradas a poucos cliques dos bêbados; os chatos experimentaram um salto no poder de alcance inédito desde a invenção da roda.
Felizmente, enquanto o inimigo estava preso à parede, como um cão à coleira, ladrava, mas não mordia. Bastava sair de casa e o cidadão tornava-se inatingível. Ah, as novas gerações não conhecem o Éden perdido! “Onde está fulano?”, “Saiu”, “Pra onde?”, “Não sei” - e lá ia você com as mãos no bolso, assoviando, livre para beber sua cerveja no bar, para jogar boliche em Mongaguá ou fazer amor em Guadalupe.
Incapaz de nos seguir por aí, a máquina recrutou capangas: secretárias eletrônicas que esperavam o incauto cidadão voltar de suas errâncias para, como bombas-relógio, explodir afazeres, cobranças e más notícias. Bipes que, como drones, podiam bombardear um dos nossos em qualquer canto do globo.
Mesmo com bombas e drones, no entanto, até uns 20 anos atrás, ainda era possível escapar, não ouvir os recados, viver sem bipe. Então veio o golpe mortal, assustador como Daryl Hannah piruetando em direção ao Caçador de Androides, traiçoeiro como o dedo-espeto de mercúrio do Exterminador: o celular.
O verdugo não estava mais apenas em nossos lares: morava em nosso corpo. Não só falava e ouvia como fotografava, filmava, enviava cartas, bilhetes, contas, planilhas, demitia funcionários, terminava casamentos, passava clipes do Justin Bieber, sermões do Edir Macedo e oferecia promoções de operadoras às 8h11 da manhã de domingo.
Lá por 2017, o celular já era ubíquo. Pelas ruas e ônibus, pelas escolas e repartições, parques e praias, só se via o ser humano curvado, de cabeça baixa, servil como cachorrinho a babar sobre as telas de cristal líquido, para onde quer que se olhasse - mas quem olhava?
PRATA, A. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. C2. 12 jan. 2014. Adaptado.
I. Ao se retirar os acentos das palavras “secretárias” e “máquina”, obtêm-se outras palavras presentes na Língua Portuguesa (respectivamente, um substantivo e um verbo); o mesmo não ocorre com a palavra “trás”.
II. “Traiçoeiro” (8º parágrafo) é adjetivo que caracteriza a expressão “Caçador de Androides”.
III. O termo “você”, em “lá ia você” (6º parágrafo), não se refere a um dos interlocutores do diálogo fictício citado pelo autor.
É correto o que se afirma em
Não foram poucos os cineastas que filmaram o levante das máquinas contra o Homem. Em “2001 - Uma Odisseia no Espaço”, o computador HAL se cansava de computar e partia pra um motim solitário, dominando a nave com sua melancólica agressividade.
Em “Blade Runner”, androides superinteligentes saíam matando quem fosse preciso, em busca de uma recarga que estendesse seus curtos dias sobre a Terra. Em “O Exterminador do Futuro”, os robôs se davam conta de que já não precisavam mais da gente pra passar WD-40 nas juntas e, sem muita explicação, resolviam nos eliminar do planeta. Nos três casos, o embate se dava no futuro distante e o pega pra capar (ou pra desparafusar) era explícito.
Ninguém percebeu que o golpe das engrenagens já estava em marcha - e na surdina - há mais de cem anos. E como perceberia? Que mente anticlimática criaria filme tão triste em que os humanos seriam dominados não por gigantescos computadores, por replicantes perfeitos ou robôs soltando mísseis pelas ventas, mas por este aparelhinho ridículo chamado telefone?
Agora, olhando pra trás, tudo faz sentido; quase podemos ouvir o ruído da nossa liberdade sendo sugada, pouco a pouco, pelos furinhos do bucal. Ora, uma geringonça que permite que você seja encontrado em casa, a qualquer momento, por qualquer pessoa, só podia estar mal-intencionada.
Eis o plano inicial do telefone: jogar uns contra os outros, deixando os funcionários sob o controle dos chefes, as sogras próximas das noras, as ex-namoradas a poucos cliques dos bêbados; os chatos experimentaram um salto no poder de alcance inédito desde a invenção da roda.
Felizmente, enquanto o inimigo estava preso à parede, como um cão à coleira, ladrava, mas não mordia. Bastava sair de casa e o cidadão tornava-se inatingível. Ah, as novas gerações não conhecem o Éden perdido! “Onde está fulano?”, “Saiu”, “Pra onde?”, “Não sei” - e lá ia você com as mãos no bolso, assoviando, livre para beber sua cerveja no bar, para jogar boliche em Mongaguá ou fazer amor em Guadalupe.
Incapaz de nos seguir por aí, a máquina recrutou capangas: secretárias eletrônicas que esperavam o incauto cidadão voltar de suas errâncias para, como bombas-relógio, explodir afazeres, cobranças e más notícias. Bipes que, como drones, podiam bombardear um dos nossos em qualquer canto do globo.
Mesmo com bombas e drones, no entanto, até uns 20 anos atrás, ainda era possível escapar, não ouvir os recados, viver sem bipe. Então veio o golpe mortal, assustador como Daryl Hannah piruetando em direção ao Caçador de Androides, traiçoeiro como o dedo-espeto de mercúrio do Exterminador: o celular.
O verdugo não estava mais apenas em nossos lares: morava em nosso corpo. Não só falava e ouvia como fotografava, filmava, enviava cartas, bilhetes, contas, planilhas, demitia funcionários, terminava casamentos, passava clipes do Justin Bieber, sermões do Edir Macedo e oferecia promoções de operadoras às 8h11 da manhã de domingo.
Lá por 2017, o celular já era ubíquo. Pelas ruas e ônibus, pelas escolas e repartições, parques e praias, só se via o ser humano curvado, de cabeça baixa, servil como cachorrinho a babar sobre as telas de cristal líquido, para onde quer que se olhasse - mas quem olhava?
PRATA, A. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. C2. 12 jan. 2014. Adaptado.
I. Considerando a progressão temática do texto, a relação de coerência entre o segundo e o terceiro parágrafos pode ser corretamente explicitada se este fosse introduzido por “Mas”.
II. Em “Olhando pra trás” (4º parágrafo), o termo destacado faz referência à época retratada nos filmes mencionados.
III. “Aparelhinho”, “geringonça” e “inimigo” são expressões que, no texto, referem-se a um mesmo elemento.
É correto o que se afirma em
Não foram poucos os cineastas que filmaram o levante das máquinas contra o Homem. Em “2001 - Uma Odisseia no Espaço”, o computador HAL se cansava de computar e partia pra um motim solitário, dominando a nave com sua melancólica agressividade.
Em “Blade Runner”, androides superinteligentes saíam matando quem fosse preciso, em busca de uma recarga que estendesse seus curtos dias sobre a Terra. Em “O Exterminador do Futuro”, os robôs se davam conta de que já não precisavam mais da gente pra passar WD-40 nas juntas e, sem muita explicação, resolviam nos eliminar do planeta. Nos três casos, o embate se dava no futuro distante e o pega pra capar (ou pra desparafusar) era explícito.
Ninguém percebeu que o golpe das engrenagens já estava em marcha - e na surdina - há mais de cem anos. E como perceberia? Que mente anticlimática criaria filme tão triste em que os humanos seriam dominados não por gigantescos computadores, por replicantes perfeitos ou robôs soltando mísseis pelas ventas, mas por este aparelhinho ridículo chamado telefone?
Agora, olhando pra trás, tudo faz sentido; quase podemos ouvir o ruído da nossa liberdade sendo sugada, pouco a pouco, pelos furinhos do bucal. Ora, uma geringonça que permite que você seja encontrado em casa, a qualquer momento, por qualquer pessoa, só podia estar mal-intencionada.
Eis o plano inicial do telefone: jogar uns contra os outros, deixando os funcionários sob o controle dos chefes, as sogras próximas das noras, as ex-namoradas a poucos cliques dos bêbados; os chatos experimentaram um salto no poder de alcance inédito desde a invenção da roda.
Felizmente, enquanto o inimigo estava preso à parede, como um cão à coleira, ladrava, mas não mordia. Bastava sair de casa e o cidadão tornava-se inatingível. Ah, as novas gerações não conhecem o Éden perdido! “Onde está fulano?”, “Saiu”, “Pra onde?”, “Não sei” - e lá ia você com as mãos no bolso, assoviando, livre para beber sua cerveja no bar, para jogar boliche em Mongaguá ou fazer amor em Guadalupe.
Incapaz de nos seguir por aí, a máquina recrutou capangas: secretárias eletrônicas que esperavam o incauto cidadão voltar de suas errâncias para, como bombas-relógio, explodir afazeres, cobranças e más notícias. Bipes que, como drones, podiam bombardear um dos nossos em qualquer canto do globo.
Mesmo com bombas e drones, no entanto, até uns 20 anos atrás, ainda era possível escapar, não ouvir os recados, viver sem bipe. Então veio o golpe mortal, assustador como Daryl Hannah piruetando em direção ao Caçador de Androides, traiçoeiro como o dedo-espeto de mercúrio do Exterminador: o celular.
O verdugo não estava mais apenas em nossos lares: morava em nosso corpo. Não só falava e ouvia como fotografava, filmava, enviava cartas, bilhetes, contas, planilhas, demitia funcionários, terminava casamentos, passava clipes do Justin Bieber, sermões do Edir Macedo e oferecia promoções de operadoras às 8h11 da manhã de domingo.
Lá por 2017, o celular já era ubíquo. Pelas ruas e ônibus, pelas escolas e repartições, parques e praias, só se via o ser humano curvado, de cabeça baixa, servil como cachorrinho a babar sobre as telas de cristal líquido, para onde quer que se olhasse - mas quem olhava?
PRATA, A. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. C2. 12 jan. 2014. Adaptado.
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme.
- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?
Ele foi simples:
- Sim, já beijei antes uma mulher.
- Quem era ela? - perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir - era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! - como deixava a garganta seca.
E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente engolia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.
E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos.
Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga.
Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos.
Abriu-os e viu, bem junto de sua cara, dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que, realmente, ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado: mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva.
Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido.
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...
Ele se tornara homem.
LISPECTOR, Clarice. “O primeiro beijo". In: O primeiro beijo e outros contos - antologia. São Paulo: Ática, 1997 (pp.20-22). Adaptado.
I. “Era morna, porém, a saliva” (9° parágrafo) → Era morna porém, a saliva.
II. “na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz” (13° parágrafo) → na curva inesperada da estrada, entre arbustos, estava... o chafariz.
III. “Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos.” (11° parágrafo) → Talvez minutos apenas, enquanto sua sede, era de anos.
É correto o que está contido em
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme.
- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?
Ele foi simples:
- Sim, já beijei antes uma mulher.
- Quem era ela? - perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir - era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! - como deixava a garganta seca.
E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente engolia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.
E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos.
Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga.
Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos.
Abriu-os e viu, bem junto de sua cara, dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que, realmente, ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado: mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva.
Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido.
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...
Ele se tornara homem.
LISPECTOR, Clarice. “O primeiro beijo". In: O primeiro beijo e outros contos - antologia. São Paulo: Ática, 1997 (pp.20-22). Adaptado.
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme.
- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?
Ele foi simples:
- Sim, já beijei antes uma mulher.
- Quem era ela? - perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir - era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! - como deixava a garganta seca.
E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente engolia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.
E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos.
Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga.
Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos.
Abriu-os e viu, bem junto de sua cara, dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que, realmente, ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado: mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva.
Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido.
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...
Ele se tornara homem.
LISPECTOR, Clarice. “O primeiro beijo". In: O primeiro beijo e outros contos - antologia. São Paulo: Ática, 1997 (pp.20-22). Adaptado.
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme.
- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?
Ele foi simples:
- Sim, já beijei antes uma mulher.
- Quem era ela? - perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir - era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! - como deixava a garganta seca.
E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente engolia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.
E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos.
Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga.
Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos.
Abriu-os e viu, bem junto de sua cara, dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que, realmente, ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado: mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva.
Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido.
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...
Ele se tornara homem.
LISPECTOR, Clarice. “O primeiro beijo". In: O primeiro beijo e outros contos - antologia. São Paulo: Ática, 1997 (pp.20-22). Adaptado.
I. No décimo segundo e décimo terceiro parágrafos, está implícita a comparação entre o garoto e um animal, mas a ideia de instinto daí decorrente se esvai no restante do texto, com a descoberta consciente do garoto sobre sua sexualidade.
II. O fato de o menino se descobrir como um homem precede o beijo que ele deu na estátua, o que se pode comprovar pela virilidade presente no trecho “colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água” (14º parágrafo).
III. Após a leitura do conto, é possível constatar que a “sede” mencionada no texto possui um duplo sentido, referindo-se tanto à sua necessidade literal de refrescar-se devido ao calor e à algazarra no ônibus quanto às transformações hormonais do garoto.
É correto o que se afirma em
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme.
- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?
Ele foi simples:
- Sim, já beijei antes uma mulher.
- Quem era ela? - perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir - era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! - como deixava a garganta seca.
E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente engolia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.
E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos.
Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga.
Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos.
Abriu-os e viu, bem junto de sua cara, dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que, realmente, ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado: mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva.
Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido.
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...
Ele se tornara homem.
LISPECTOR, Clarice. “O primeiro beijo". In: O primeiro beijo e outros contos - antologia. São Paulo: Ática, 1997 (pp.20-22). Adaptado.
Desta vez não foi preciso esperar junho. Dois acontecimentos de tonalidades quase opostas, no início de ano futebolístico, tiveram o dom de mostrar ao mundo a formação estamental brasileira sob o manto da suposta igualdade civil. Refiro-me à retomada dos irônicos “rolezinhos” em shoppings de São Paulo e ao macabro vídeo das decapitações no Maranhão.
O sentido ideológico das manifestações dos jovens da periferia nos centros de compras paulistanos é difícil de precisar. Como fica claro em entrevista do antropólogo Alexandre Barbosa Pereira (brasil.elpais.com), elas contêm profunda ambiguidade. De um lado, ao contestar a falta de áreas de lazer e a exclusividade de espaços semipúblicos para quem tem dinheiro, trazem demanda igualitária. Por outro, ao expressar fascínio pelo universo da mercadoria, ajudam a reproduzir a desigualdade contestada.
Mas, ao menos numa dimensão, o movimento juvenil em torno dos locais de consumo traz recado claro e insofismável. As meninas e meninos estão dizendo: “Nós existimos e queremos ter o direito pleno a participar desta sociedade, seja ela como for”. Convencidos, por bons motivos, de que a vida social gira em torno da mercadoria, a garotada periférica se organizou para afirmar que não admite mais ser excluída desse círculo.
Embora quase impossível, se abstrairmos o que há de monstruoso na ação dos detentos maranhenses, há também ali um grito de desespero, uma maneira cruel e sanguinária de dizer que não é possível viver naquela situação excluída por completo do cânone civilizado. Celas com 13 presos em espaço onde caberiam apenas quatro. Galinha crua como refeição. Cheiro nauseante de fezes, urina e comida estragada. Foram tais amostras superficiais do inferno penitenciário que a Folha colheu em presídio de São Luís análogo ao do horrendo filme.
A organização dos presidiários em bandos que, na prática, controlam o cotidiano da prisão é a consequência óbvia de tais condições. Sociedade de massas com um dos mais altos índices de detentos do planeta, o Brasil gera, quase que de maneira automática, redes criminosas que, uma vez formadas, funcionam como pequenos Estados dentro do Estado. O problema é que são Estados tirânicos, onde a lei é simplesmente a do mais forte.
Tanto os “rolezinhos” paulistanos quanto as cabeças cortadas de Pedrinhas estão a lembrar a tarefa que o país da Copa do Mundo ainda tem diante de si: incluir, integrar, dar acesso universal aos benefícios que já foi capaz de produzir para uma parte da população. Esvaziar presídios e encher praças vai exigir de nós bem mais do que terminar os estádios a tempo.
SINGER, A. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. A2. 11 jan. 2014. Adaptado.