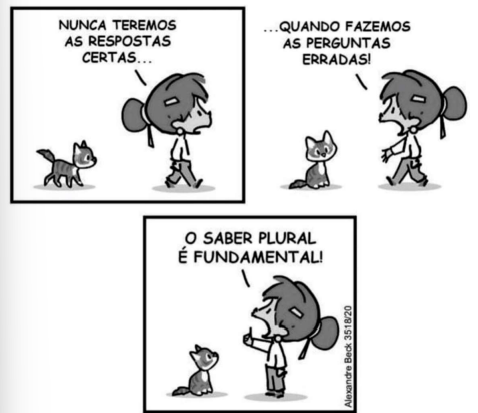Questões de Concurso
Sobre paralelismo sintático e semântico em português
Foram encontradas 656 questões
Leia o Texto 2 para responder à questão.
Texto 2
Guerra
Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte...
É a dramatização sangrenta e dura
Da avidez com que o Espírito procura
Ser perfeito, ser máximo, ser forte!
É a Subconsciência que se transfigura
Em volição conflagradora... É a coorte
Das raças todas, que se entrega à morte
Para a felicidade da Criatura!
É a obsessão de ver sangue, é o instinto horrendo
De subir, na ordem cósmica, descendo
À irracionalidade primitiva...
É a Natureza que, no seu arcano,
Precisa de encharcar-se em sangue humano
Para mostrar aos homens que está viva!
ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. 42. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1998. p. 63.


Leia o texto 1 a seguir para responder a questão.
Texto 1
Eu sei, mas não devia
Eu sei que a gente se acostuma.
Mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.
A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta.
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.
COLASANTI. Marina. Crônicas para jovens. Editora Rocco - Rio de Janeiro, 2012.
Esse efeito é construído, principalmente, pelo uso:
O texto seguinte servirá de base para responder a questão:
Não espalha
Prendemo-nos ao "eu te amo" como se fosse uma convenção inadiável, uma etiqueta implacável. Seu pronunciamento é uma sentença obrigatória, uma sondagem diária da fidelidade.
Há aqueles que não saem de casa se o cônjuge não retribui as palavrinhas mágicas.
Não sou adepto dessa birra e chantagem com Beatriz. Que ela simplesmente me ame, sem depender de provas, sem se ver ameaçada por testes quantitativos.
Circula uma tirania de que precisamos falar sempre, para que a companhia não tenha dúvidas daquilo que sentimos.
Mas a jura não é tão importante quanto demonstrar amor. E você pode expressar o carinho silenciosamente, a lealdade secretamente.
Ou seja, é preferível mais proteger, confiar e selar a empatia em atos de confluência do que gritar votos aos quatro ventos.
A ostentação não suplanta a simplicidade.
Quando existe o exercício pleno do amor, passa a ser ridículo qualquer questionamento.
O que vale é agir amorosamente, é se preocupar amorosamente, é se interessar pelo outro, é suprir o seu par com atenção, é trocar a saudade pela gentileza.
E, de repente, quem ama muito nem diz "eu te amo", economiza no "eu te amo", porém é abundante na prática da reciprocidade. É alguém que não se nega a estar perto, acessível, consciente de sua influência.
As palavras enganam, as atitudes jamais.
Esse arcabouço de comportamentos deve prevalecer no romance. Não queira que o seu parceiro diga a todo momento o que ele mesmo já realiza naturalmente. É redundância.
Recordo um diálogo que vivi com a minha filha, quando ela tinha 11 anos.
Na hora de dar boa-noite, reparei que ela estava encabulada e arredia comigo. Tentei me aproximar.
− O que houve?
− Eu não sei se te amo. Não sei o que é amor − ela me disse.
Não me senti mal. Não me senti desvalorizado. Quem nunca se perguntou isso? Há dias em que parece que você ama mais.
Há dias em que parece que você ama menos. Há dias em que você se esquece de amar. Há dias em que você ama em dobro.
Lembro que fiz carinho na sua cabeça, cantei "O Leãozinho", de Caetano, e permaneci ao seu lado até que adormecesse.
Quando jurei que ela já tinha apagado e não estava mais me ouvindo, confidenciei:
− Amar é só gostar de ficar junto, filha.
Ela, inesperadamente, respondeu:
− Então, eu te amo, pai, mas não espalha.
Fabrício Carpinejar
https://www.otempo.com.br/opiniao/fabricio-carpinejar/2024/11/29/naoespalha
Qual é o problema da educação no Brasil?
Rodrigo Bouyer
O problema da educação no Brasil é fruto da desigualdade social. Este é um país, cujo pano de fundo parece ter sido escrito por Carolina de Jesus, Lima Barreto, Darcy Ribeiro e Graciliano Ramos. E, de certa maneira, tais protagonistas da literatura foram também observadores perspicazes da realidade caótica do país, retratando-a com maestria. Decerto, tais autores compartilhavam um desconforto quanto ao ambiente que os cercava, o qual permanece – em outro contexto e em outra época – o mesmo. Dizer que o ensino, no Brasil, tem raízes profundas na condição sistêmica pela qual a nossa sociedade se dinamiza significa entender que as adversidades impostas são materiais e inerentes à nossa história.
Quando abolida a escravidão, por exemplo, a população “livre” que aqui vivia foi vilipendiada por um projeto de branqueamento que trouxe imigrantes de fora para que, aos poucos, não houvesse mais retintos no território. Sim, trata-se de um projeto eugenista que aparta todo um povo, cuja memória foi apagada, perdendo-se no tempo-espaço. Esse processo fez haver uma amálgama étnica que se miscigenou, de maneira que o racismo, por aqui, foi se arraigando, conforme a gradação da coloração da pele do indivíduo. Não é à toa que a população que mais sofre encarceramento, adversidades climáticas e com a falta de acesso a ensino e direitos básicos é negra.
Quanto mais pobre, menos há a garantia de que a pessoa consiga estudar. Quanto maior a distância dos grandes centros urbanos, mais difícil é o acesso a universidades e a um preparo pré-acadêmico no ensino de base, o qual, muitas vezes, é menos que insatisfatório. No entanto, por que insistir na ideia de que o problema na educação está arraigado à desigualdade social e acomete, primordialmente, a população pobre e preta no país? Porque isso é um fato. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a maior parte dos trabalhadores no Brasil possui ensino médio completo, e a maioria das vagas ofertadas também é direcionada a esse perfil. Nos últimos anos, o crescimento brasileiro tem sido muito focado nos serviços. Essas são as funções que menos exigem qualificação e escolaridade.
Muitos têm o diploma, mas não possuem o conhecimento necessário que o mercado exige para aplicar o aprendizado à rotina diária. Alguns fatos podem explicar esse fenômeno. Atentemo-nos a eles. Destacam-se alguns aspectos sobre a recente massificação do ensino no Brasil. Com a criação do Prouni e Fies, mais indivíduos puderam ter acesso à educação no país, pelas universidades não gratuitas (que cobram mensalidade). O Sisu também o promove por meio de um método semelhante aos que eram aplicados pelos vestibulares antigamente. Essa foi uma maneira de franquear um segmento quase hermético, a que somente as classes dominantes tivessem acesso. Um fenômeno estranho, contudo, ocorre com os discentes que tentam ingressar no mercado de trabalho; apesar da escolaridade avançada, a colocação no âmbito profissional é escassa. E se a resposta para isso estiver na estrutura da empregabilidade de que é oriunda a demanda por serviços no país? Sabe-se que o assalariamento desses indivíduos nos remete aos tempos da abolição.
Isso gerou uma massa preterida dos direitos, sem acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Conforme dados apurados pelo Ipea, a maior parte dos trabalhadores se encaixa no perfil de vagas direcionadas a quem possui apenas o fundamental e o médio. Isso significa que muitos indivíduos, apesar de formados, serão cooptados pela precarização de um mercado que foi, aos poucos, sendo desmantelado por uma série de reformas que tolheram direitos dos seus postulantes.
As universidades têm papel preponderante na formação de profissionais, os quais, muitas vezes, se evadem a outros países para atuarem nas áreas para as quais estes se prepararam durante a instrução acadêmica. O número de estudantes que quer estudar fora é grande. Lá, há mais chance de serem ouvidos e de cumprirem jornadas menos exaustivas no ambiente laboral.
Adquirir conhecimento, aqui, muitas vezes, é um privilégio.
Tudo ocorre por meio da educação. Entretanto, o cidadão – para que possa ter acesso a esse direito – tem de ter condições dignas de locomoção, trabalho, moradia e alimentação. Crer em modernização é o mesmo que dar créditos a uma falácia. Tivemos, há alguns anos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do governo Temer que congelou as arrecadações da saúde, educação e previdência por vinte anos.
Uma reforma é necessária. Contudo, a mudança, no âmbito estratégico das universidades não pagas, também é importante. Que, juntos, trabalhemos em prol de um projeto de nação. Isso conta com esforços coletivos e individuais de todos os brasileiros. As instituições de ensino superior veem um desafio diante de si para as próximas gerações. Oferecer experiência e qualidade é a chave para que mais pessoas se interessem por este que é um dos mais importantes meios de ascensão social existentes no país. Educação hoje e sempre!
Disponível em: https://diplomatique.org.br/qual-e-o-problema-da-educacao-no-brasil/. Acesso em: 06 nov. 2024.
Quanto mais pobre, menos há a garantia de que a pessoa consiga estudar. Quanto maior a distância dos grandes centros urbanos, mais difícil é o acesso a universidades e a um preparo pré-acadêmico no ensino de base, o qual muitas vezes é menos que insatisfatório.
Em relação à estratégia argumentativa utilizada, analise as afirmativas a seguir.
I Há um paralelismo sintático que realça a proporcionalidade construída nos dois períodos.
II A relação de proporcionalidade, no fragmento, reafirma a posição do autor no texto.
III Os dois períodos são construídos por meio de uma relação comparativa, favorável à conclusão do autor.
IV Há uma relação de causa e efeito entre os dois períodos, que colabora com a tese anterior.
Das afirmativas, estão corretas
Analise a seguinte sentença e identifique a opção que apresenta o erro de paralelismo sintático:
"A equipe realizou a análise do relatório, discutiu os resultados e foi definido as próximas etapas."
Considere a frase:
"O carro foi vendido ao preço de ouro."
Assinale a alternativa que define a classificação semântica do termo destacado:
Considerando o texto apresentado, julgue o item a seguir.
Conforme empregados no texto, os verbos “pesquisar” e “interpretar” (primeiro período do quarto parágrafo) pertencem ao mesmo campo semântico do vocábulo “ofício” (último parágrafo).
No contexto entre aspas, as palavras destacadas
(Fonte: https://acesse.dev/semantica.adaptado)
Assinale a opção correta em relação ao estudo da semântica.
Observe o seguinte trecho do parágrafo 3º:
O governador gaúcho frisou que as diferenças políticas precisam ser colocadas de lado no momento em que o estado enfrenta fortes chuvas. “Temos que estar à altura do que a história nos exige, como lideranças públicas, colocando de lado qualquer diferença neste momento”, afirmou.
As expressões citadas são exemplos de um fenômeno semântico conhecido como:
Canção para os fonemas da alegria
Thiago de Mello
Peço licença para algumas coisas.
Primeiramente para desfraldar
este canto de amor publicamente.
Sucede que só sei dizer amor
quando reparto o ramo azul de estrelas
que em meu peito floresce de menino.
Peço licença para soletrar,
no alfabeto do sol pernambucano,
a palavra ti-jo-lo, por exemplo,
e poder ver que dentro dela vivem
paredes, aconchegos e janelas,
e descobrir que todos os fonemas
são mágicos sinais que vão se abrindo
constelação de girassóis gerando
em círculos de amor que de repente
estalam como flor no chão da casa.
Às vezes nem há casa: é só o chão.
Mas sobre o chão quem reina agora é um homem
diferente, que acaba de nascer:
porque unindo pedaços de palavras
aos poucos vai unindo argila e orvalho,
tristeza e pão, cambão e beija-flor,
e acaba por unir
a própria vida no seu peito partida e repartida
quando afinal descobre num clarão
que o mundo é seu também, que o seu trabalho
não é a pena que paga por ser homem,
mas um modo de amar — e de ajudar
o mundo a ser melhor. Peço licença
para avisar que, ao gosto de Jesus,
este homem renascido é um homem novo:
ele atravessa os campos espalhando
a boa-nova, e chama os companheiros
a pelejar no limpo, fronte a fronte,
contra o bicho de quatrocentos anos,
mas cujo fel espesso não resiste
a quarenta horas de total ternura.
Peço licença para terminar
soletrando a canção de rebeldia
que existe nos fonemas da alegria:
canção de amor geral que eu vi crescer
nos olhos do homem que aprendeu a ler.
Thiago de Mello. Faz escuro mas eu canto. São Paulo: Global Editora, 2017.
Na primeira oração da sexta estrofe, a substituição do vocábulo “nem” por não preservaria a coerência do poema, mas alteraria a carga semântica atribuída ao verso.