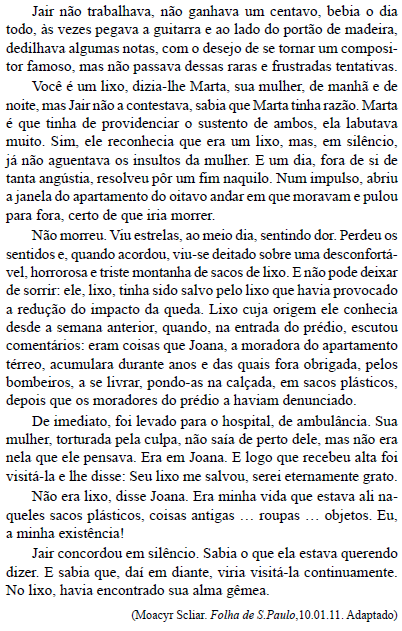Questões de Concurso
Sobre conjunções: relação de causa e consequência em português
Foram encontradas 4.688 questões
Conheço algumas raras pessoas que se recusam (ainda!) a ter celular. Cada vez mais, se rendem. A vida ficou impossível sem ele.
A alternativa em que o emprego de conjunções expressa, com correção, a adequada relação de sentido entre as orações é:
Para responder à questão, leia a letra de canção a seguir
Balada do Louco (Mutantes)
Dizem que sou louco
por pensar assim
Se eu sou muito louco
por eu ser feliz
Mas louco é quem me diz
que não é feliz, não é feliz
Se eles são bonitos, sou Alain Delon
Se eles são famosos, sou Napoleão
Mas louco é quem me diz
que não é feliz, não é feliz
Eu juro que é melhor
Não ser o normal
Se eu posso pensar que Deus sou eu e Brrrrr...
Se eles têm três carros, eu posso voar
Se eles rezam muito, eu já estou no céu
Mas louco é quem me diz
Que não é feliz, não é feliz
Eu juro que é melhor
Não ser o normal
Se eu posso pensar que Deus sou eu e Brrrrr...
Sim, sou muito louco, não vou me curar
Já não sou o único que encontrou a paz
Mas louco é quem me diz
E não é feliz
Eu sou feliz
(http://www.vagalume.com.br/)
Recém-chegado a Roma em 1505, Michelangelo Buonarroti foi contratado para fazer aquela que vislumbrava como a obra de sua vida. O jovem que acabara de se consagrar como escultor do Davi recebeu a incumbência de criar o futuro túmulo do papa Júlio II. O projeto consistia no maior conjunto de esculturas desde a antiguidade. Mas Júlio II mudou de ideia: antes de fazer o túmulo, resolveu reconstruir a Catedral de São Pedro. Com o adiamento, Michelangelo recebeu um prêmio de consolação: pintar o teto de uma capela de uso reservado que se encontrava em estado deplorável.
Michelangelo resistiu a pintar a capela não apenas por
julgar que seria um projeto menor. Relatos indicam que, na raiz
disso, havia uma forte insegurança. O artista, que se considerava
um escultor, cortava de forma peremptória quando lhe
pediam uma pintura: “não é minha profissão”. Hoje, é curioso
imaginar que o criador do teto da Capela Sistina possa ter
resistido a seu destino.
Michelangelo fez fortuna servindo a sete papas e a
outros tantos notáveis, como o clã florentino dos Medici. Nem
sempre, porém, entregava o que prometia. Para sobreviver,
enfim, Michelangelo teve de enfrentar questões que afligem os
seres humanos em qualquer tempo. Como no caso de sua
resistência a trocar a escultura pela pintura, quem nunca tremeu
nas bases ao ser forçado a sair de sua zona de conforto? Em
matéria de pressão competitiva, a arte renascentista não diferia
tanto do ambiente de busca pelo alto desempenho das
corporações modernas. O jovem Michelangelo penou para
demonstrar o valor de seu gênio numa Florença dominada por
estrelas veteranas como Leonardo da Vinci.
O corpo humano foi o campo de batalha artística de
Michelangelo. Como definiu o pintor futurista Umberto Boccioni
(1882-1916), essa era sua “matéria arquitetônica para a
construção dos sonhos”. Michelangelo criou corpos perfeitos,
mas irreais: o Davi tem musculatura de homem adulto, mas
compleição de menino. Com isso, o artista resgatava a imagem
juvenil dos deuses gregos.
(Adaptado de Revista VEJA. Edição 2445, 30/09/2015)
Mantendo-se as relações de sentido e a correção gramatical, preenche corretamente a lacuna acima o que se encontra em:
Do narrador seus ouvinte:
- Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja. Tinha o para não ser célebre. Como elas quem pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, a que, nesta observação, a Jó Joaquim apareceu.
Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão. Aliás, casada. Sorriram-se, viram-se. Era infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se. Voando o mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento. Mas tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de sete capas.
Porque o marido se fazia notório, na valentia com ciúme; e as aldeias são a alheia vigilância. Então ao rigor geral os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel.
Não se via quando e como se viam. Jó Joaquim, além disso, existindo só retraído, minuciosamente. Esperar é reconhecer-se incompleto. Dependiam eles de enorme milagre. O inebriado engano.
Até que deu-se o desmastreio. O trágico não vem a conta-gotas. Apanhara o marido a mulher: com outro, um terceiro... Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-o. Diz-se, também, que a ferira, leviano modo.
[...]
Ela - longe - sempre ou ao máximo mais formosa, já sarada e sã. Ele exercitava-se a aguentar-se, nas defeituosas emoções.
Enquanto, ora, as coisas amaduravam. Todo fim é impossível? Azarado fugitivo, e como à Providência praz, o marido faleceu, afogado ou de tifo. O tempo é engenhoso.
[...]
Sempre vem imprevisível o abominoso? Ou: os tempos se seguem e parafraseiam-se. Deu-se a entrada dos demônios.
Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou, em péssima hora: traído e traidora. De amor não a matou, que não era para truz de tigre ou leão. Expulsou-a apenas, apostrofando-se, como inédito poeta e homem. E viajou a mulher, a desconhecido destino.
Tudo aplaudiu e reprovou o povo, repartido. Pelo fato, Jó Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso, reincidente. Triste, pois que tão calado. Suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas brancas. Mas, no frágio da barca, de novo respeitado, quieto. Vá-se a camisa, que não o dela dentro. Era o seu um amor meditado, a prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se.
[...]
Celebrava-a, ufanático, tendo-a por justa e averiguada, com convicção manifesta. Haja o absoluto amar- e qualquer causa se irrefuta.
Pois produziu efeito. Surtiu bem. Sumiram-se os pontos das reticências, o tempo secou o assunto. Total o transato desmanchava-se, a anterior evidência e seu nevoeiro. O real e válido, na árvore, é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Jó Joaquim primeiro que todos.
Mesmo a mulher, até, por fim. Chegou-lhe lá a notícia, onde se achava, em ignota, defendida, perfeita distância. Soube-se nua e pura. Veio sem culpa. Voltou, com dengos e fofos de bandeira ao vento.
Três vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se, e conviveram, convolados, o verdadeiro e melhor de sua útil vida.
E pôs-se a fábula em ata.
ROSA, João Guimarães. Tutameia - Terceiras estórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967,p.38-40.
Vocabulário
frágio: neologismo criado a partir de naufrágio,
ufanático: neologismo: ufano+fanático.
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.
I. A palavra A é pronome adjetivo pessoal oblíquo e assume a função de objeto direto da primeira oração.
II. A preposição DE, em “De amor", possui valor semântica de causa.
III. OU, dentro da oração a que pertence, é conjunção subordinativa condicional.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
Água potável
Água potável corresponde a toda água disponível na natureza destinada ao consumo e possui características e substâncias que não oferecem riscos para os seres vivos que a consomem.
A água potável é bastante restrita. Apenas 2,4% da água é doce, porém, somente 0,02% está disponível em lagos e rios que abastecem as cidades e pode ser consumida. Desse reduzido percentual, uma grande parcela encontra-se poluída, diminuindo ainda mais as reservas disponíveis.
A poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais do mundo recebem dois milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos.
(www.brasilescola.com/geografia/agua-potavel.htm - Acesso em 02.06.2013 – Adaptado)
à avaliação pessoal dos candidatos do que a
competências na área de atuação
14 de maio de 2012 - Márcia Rodrigues, de O Estado de S. Paulo
De acordo com o levantamento, 52,1% das empresas pesquisadas aplicam algum tipo de teste no processo seletivo. Destas, 71,7% valorizam a avaliação da personalidade, aptidão e as competências dos candidatos em testes psicológicos ou de análise de comportamento durante a seleção. O conhecimento técnico também é analisado no currículo, em entrevistas ou em testes situacionais - quando a empresa simula um conflito do dia a dia da função para ver se o candidato consegue solucioná-lo - , mas somente depois da aprovação do perfil comportamental.
"Normalmente, as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e são demitidas por problemas de comportamento. Por isso, é natural que as companhias deem prioridade a este tipo de avaliação. Afinal, é muito mais fácil oferecer um curso técnico para aprimorar os conhecimentos do profissional na área e, assim, suprir a sua deficiência, do que 'moldar' a personalidade de alguém", comenta diretor de educação da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Luiz Edmundo Rosa.
A gerente de recursos humanos da rede hoteleira Grupo Salinas, Eliana Castro, concorda com Rosa. Para ela, em muitos casos é importante avaliar se a personalidade do candidato se encaixa com a dos demais funcionários da equipe para não prejudicar o clima amistoso no ambiente de trabalho.
"Há candidatos que nós desencorajamos o chefe do setor a contratar, porque sua personalidade destoa dos demais da equipe. Claro que não eliminamos o candidato logo de cara, mas é algo que conta ponto", diz Eliana.
Recém-contratadas pelo grupo hoteleiro de Alagoas, Natalia Pinto Rabelo, de 22 anos, e Karina Sencades, de 32 anos, passaram por vários testes antes de obterem a efetivação.
Por ser psicóloga, Karina, que assumiu o cargo de consultora de recursos humanos em março, não passou por testes psicológicos, já que não se aplica este tipo de exame em profissionais da área. "Mas passei por entrevistas, provas situacionais e de competência, que também ressaltam características que possibilitam ao recrutador traçar meu perfil psicológico", conta Karina.
Natália, contratada este mês como assistente de vendas, fez testes de personalidade, passou por três entrevistas e ainda pela prova situacional. "De todos os testes, o mais difícil foi a simulação de um problema corriqueiro da função. 'Tirei de letra' as entrevistas e o teste psicológico."
PARA AS TEENS, DIU
Novas diretrizes da Academia Americana de Pediatria apontam o dispositivo intrauterino
como um dos melhores métodos contraceptivos para as adolescentes
Gravidez indesejada é ruim em qualquer idade. Mas na adolescência os impactos são ainda maiores e mais duradouros. Quer um exemplo? Quando descobrem que estão grávidas, muitas jovens interrompem os estudos - o que afetará as oportunidades econômicas e sociais tanto delas como de seus filhos. Sem falar que uma adolescente de 15 anos corre cinco vezes mais risco de morrer no parto do que uma mulher cinco anos mais velha.
A contracepção deveria, portanto, receber uma atenção extra nessa faixa etária - mas não é o que ocorre. Enquanto 60% das mulheres com mais de 30 anos usam algum método contraceptivo, entre as jovens de 15 a 24 anos esse índice cai para 22%, segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas. Mesmo quando há acesso, as questões típicas da idade interferem no uso. Tomar pílula todo dia requer disciplina. Exigir camisinha a cada relação sexual demanda autoconfiança - tanto dela quanto dele. Qual a melhor forma de se prevenir?
Segundo um relatório divulgado no fim do ano passado pela Academia Americana de Pediatria (AAP), a resposta é: DIU e implante hormonal. Ambos são métodos contraceptivos de longo prazo (sua ação dura de três a dez anos) e reversíveis (basta retirá-los para que a fertilidade volte ao normal).
(...)
(Revista GALILEU, Editora Globo. Maio/2015 - Nº 286 - Por Amarilis Lage - Seção
Dossiê Métodos contraceptivos, p. 35)
PARA AS TEENS, DIU
Novas diretrizes da Academia Americana de Pediatria apontam o dispositivo intrauterino
como um dos melhores métodos contraceptivos para as adolescentes
Gravidez indesejada é ruim em qualquer idade. Mas na adolescência os impactos são ainda maiores e mais duradouros. Quer um exemplo? Quando descobrem que estão grávidas, muitas jovens interrompem os estudos - o que afetará as oportunidades econômicas e sociais tanto delas como de seus filhos. Sem falar que uma adolescente de 15 anos corre cinco vezes mais risco de morrer no parto do que uma mulher cinco anos mais velha.
A contracepção deveria, portanto, receber uma atenção extra nessa faixa etária - mas não é o que ocorre. Enquanto 60% das mulheres com mais de 30 anos usam algum método contraceptivo, entre as jovens de 15 a 24 anos esse índice cai para 22%, segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas. Mesmo quando há acesso, as questões típicas da idade interferem no uso. Tomar pílula todo dia requer disciplina. Exigir camisinha a cada relação sexual demanda autoconfiança - tanto dela quanto dele. Qual a melhor forma de se prevenir?
Segundo um relatório divulgado no fim do ano passado pela Academia Americana de Pediatria (AAP), a resposta é: DIU e implante hormonal. Ambos são métodos contraceptivos de longo prazo (sua ação dura de três a dez anos) e reversíveis (basta retirá-los para que a fertilidade volte ao normal).
(...)
(Revista GALILEU, Editora Globo. Maio/2015 - Nº 286 - Por Amarilis Lage - Seção
Dossiê Métodos contraceptivos, p. 35)
Segundo um relatório divulgado no fim do ano passado pela Academia Americana de Pediatria (AAP), a resposta é: DIU e implante hormonal. Ambos são métodos contraceptivos de longo prazo (sua ação dura de três a dez anos) e reversíveis (basta retirá-los para que a fertilidade volte ao normal).
A opção na qual há uma afirmação INCORRETA acerca de aspectos gramaticais e textuais
declarados é:
_____________ nós tenhamos mais tempo, nós não terminaremos o projeto no prazo.
Estava indisposto, por isso resolveu ficar em casa.
A palavra vem do grego oikonomia, que significa “administração da casa", e passou a significar o estudo das maneiras de gerir os recursos e, mais especificamente, a produção e a permuta de bens e serviços. A economia moderna surgiu como disciplina específica no século XVIII, sobretudo com a publicação em 1776 de A riqueza das nações, livro escrito pelo grande pensador escocês Adam Smith. Contudo, o que motivou o interesse no assunto não foram os textos de economistas, mas as enormes mudanças na própria economia com o advento da Revolução Industrial. Os pensadores mais antigos haviam falado da gestão de bens e serviços nas sociedades, tratando de questões que surgiram como problemas da filosofia moral ou política. Mas, com o surgimento das fábricas e da produção de bens em massa, veio uma nova era de organização econômica que dava atenção ao todo. Aí começou a chamada economia de mercado.
A análise de Smith do novo sistema definiu o padrão, com uma explicação abrangente do mercado competitivo. Ele afirmou que o mercado é guiado por uma “mão invisível", de modo que as ações racionais de indivíduos interesseiros acabam dando à sociedade exatamente o que ela necessita. Smith era filósofo, e o tema de seu livro incluía política, história, filosofia e antropologia. Depois dele, surgiu uma nova geração de pensadores econômicos, que preferiu se concentrar totalmente na economia.
(Adaptado de: O livro da economia. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo, Globo, 2013, p. 12-14)
No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou 337 casos no dia 11 de outubro, número que saltou para 824 em duas semanas, distribuídos principalmente entre Oiapoque, no Amapá, Feira de Santana e Riachão do Jacuípe, na Bahia.
A disseminação rápida é atribuída à ausência de imunidade na população e à distribuição dos mosquitos-vetores capazes de transmitir o vírus: Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos da dengue.
O nome chicungunha veio da língua Kimakonde, com o significado de “homem que anda arqueado", referência às dores articulares da enfermidade.
Como a história da dengue e da febre amarela, a do chicungunha é indissociável do comportamento humano. O aquecimento e a seca que assolaram o norte da África há 5000 anos forçaram espécies ancestrais dos mosquitos a adaptar-se____________ ambientes __________ os homens armazenavam água.
A febre chicungunha, que emergiu na África, chegou _________Ásia e ___________ Américas.
O chicungunha já é uma ameaça para nós, como demonstra a velocidade de disseminação na Bahia e no Amapá.
(Folha de S.Paulo, 15 nov. 2014. Adaptado)
Como a história da dengue e da febre amarela, a do chicungunha é indissociável do comportamento humano. (5o parágrafo)
O chicungunha já é uma ameaça para nós, como demonstra a velocidade de disseminação na Bahia e no Amapá. (7o parágrafo)
As expressões em destaque estabelecem, correta e respectivamente, relação de
A importância do ato de ler
Paulo Freire
Clarisse, cidade gloriosa, tem uma história atribulada. Diversas vezes decaiu e refloresceu, mantendo sempre a primeira Clarisse como inigualável modelo de todos os esplendores, a qual comparada com o atual estado da cidade, não deixa de suscitar suspiros a cada giro de estrelas. Nos séculos de degradação, a cidade, esvaziada por causa das pestilências, reduzida em estatura por causa do desabamento de traves e cornijas e do desmoronamento de terras, repovoava-se lentamente com hordas de sobreviventes emersos de sótãos e covas como férvidos ratos movidos pelo afã de revolver e roer e que ao mesmo tempo se reuniam e se ajeitavam como passarinhos num ninho. Agarravam-se a tudo o que podia ser retirado de onde estava e colocado em outro lugar com outra utilidade [...] Montada com os pedaços avulsos da Clarisse imprestável, tomava forma uma Clarisse da sobrevivência, repleta de covis e casebres, córregos infectados, gaiolas de coelhos. Todavia não se perdera quase nada do antigo esplendor de Clarisse, estava tudo ali apenas disposto de maneira diversa mas não menos adequada às exigências dos seus habitantes.Os tempos de indigência eram sucedidos por épocas mais alegres: uma suntuosa Clarisse-borboleta saía da mísera Clarisse-crisálida...
Ítalo Calvino. “As cidades e o nome 4" In: As cidades invisíveis. RJ:
O Globo, 2003. Páginas 102-103. Fragmento.
2º Não havia arrogância em sua frase, mas algo entre a humanidade e a petulância sagrada. Parecia um pintor, que olhando o quadro terminado assina seu nome embaixo. Havia um certo fastio em suas palavras gestos. Se retirava de um banquete satisfeito. Parecia pronto para morrer, já que sempre estivera pronto para amar.
3º Aquele homem me confessou que amava sem nenhuma coerção. Não lhe encostei .......... faca no peito cobrando algo. Ele é que tinha algo a me oferecer. Foi muito diferente daqueles que não confessam seus sentimentos nem mesmo debaixo de um “pau-de-arara": estão ali se afogando de paixão, levando choques de amor, mas não se entregam. E, no entanto, basta ler-lhes a ficha que está tudo lá: traficante ou guerrilheiro do amor.
4º Uns dizem: casei várias vezes. Outros assinalam: fiz vários filhos. Outro dia li numa revista um conhecido ator dizendo: tive todas as mulheres que quis. Outros, ainda, dizem: não posso viver sem fulana (ou fulano). Na Bíblia está que Abraão gerou Isac, Isac gerou Jacó e Jacó gerou as doze tribos de Israel. Mas nenhum deles disse: “Na verdade, fui muito amado.".
5º Mas quando do alto de seus oitenta anos aquele homem desfechou sobre mim aquela frase, me senti não apenas como o filho que quer ser engenheiro como o pai. Senti-me um garoto de quatro anos, de calças curtas, se dizendo: quando eu crescer quero ser um homem de oitenta anos que diga: “Amei muito, na verdade, fui muito amado.". Se não pensasse isto, não seria digno daquela frase que acabava de me ser ofertada. E eu não poderia desperdiçar uma sabedoria que levou oitenta anos para se formar. É como se eu não visse o instante em que a lagarta se transformaria em libélula.
6º Ouvindo-o, por um instante, suspeitei que a psicanálise havia fracassado; que tudo aquilo que Freud sempre disse de que o desejo nunca é preenchido, que se o é, o é por frações de segundos, e que a vida é insatisfação e procura, tudo isto era coisa passada. Sim, porque sobre o amor há muitas frases inquietantes por aí.
7º Frase que se pode atualizar: eu era amado e não sabia. Porque nem todos sabem reconhecer quando são amados. Flores despencam em arco-íris sobre sua cama, um banquete real está sendo servido e, sonolento, olha noutra direção.
8º Sei que vocês vão me repreender, dizendo: deveria ter-nos apresentado o personagem, também o queríamos conhecer, repartir tal acontecimento. E é justa a reprimenda. Porque quando alguém está amando, já nos contamina de jasmins. Temos vontade de dizer, vendo-o passar: ame por mim, já que não pode se deter para me amar a mim. Exatamente como se diz a alguém que está indo .......... Europa: por favor, na Itália, coma e beba por mim.
9º Ver uma pessoa amando é como ler um romance de amor. É como ver um filme de amor. Também se ama por contaminação na tela do instante. A estória é do outro, mas passa das páginas e telas para a gente.
10° Reconhece-se a cinquenta metros um desamado, o carente. Mas reconhece-se a cem metros o bem-amado. Lá vem ele: sua luz nos chega antes de suas roupas e pele. Sinos batem nas dobras de seu ser. Pássaros pousam em seus ombros e frases. Flores está colorindo o chão em que pisou.
11° O que ama é um disseminador.
12° O bem-amado é uma usina de luz. Tão necessário .......... comunidade, que deveria ser declarado bem de utilidade pública.
Affonso Romano de Sant'Anna.
Paulo Freire
2º Aceitei fazê-lo agora, da maneira, porém, menos formal possível. Aceitei vir aqui para falar um pouco da importância do ato de ler.
3º Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje; dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na descodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, em que senti levado – e até gostosamente – a “reler" momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio _____ mim constituindo. Ao ir escrevendo este texto, ia “tomando distância" dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a “leitura" do mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura da “palavra mundo".
4º A retomada da infância distante, buscando _____ compreensão do meu ato de “ler" o mundo particular em que me ouvia – e até onde não sou traído pela memória –, me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, re-crio, re-vivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós – à sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me experimentava _____ riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio das avencas de minha mãe –, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, Andrei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os “textos", as “palavras", as “letras" daquele contexto – em cuja percepção me experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber – se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo _____ meu trato com eles, nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 12. ed. São Paulo: Cortez, 1986. p. 11-3.