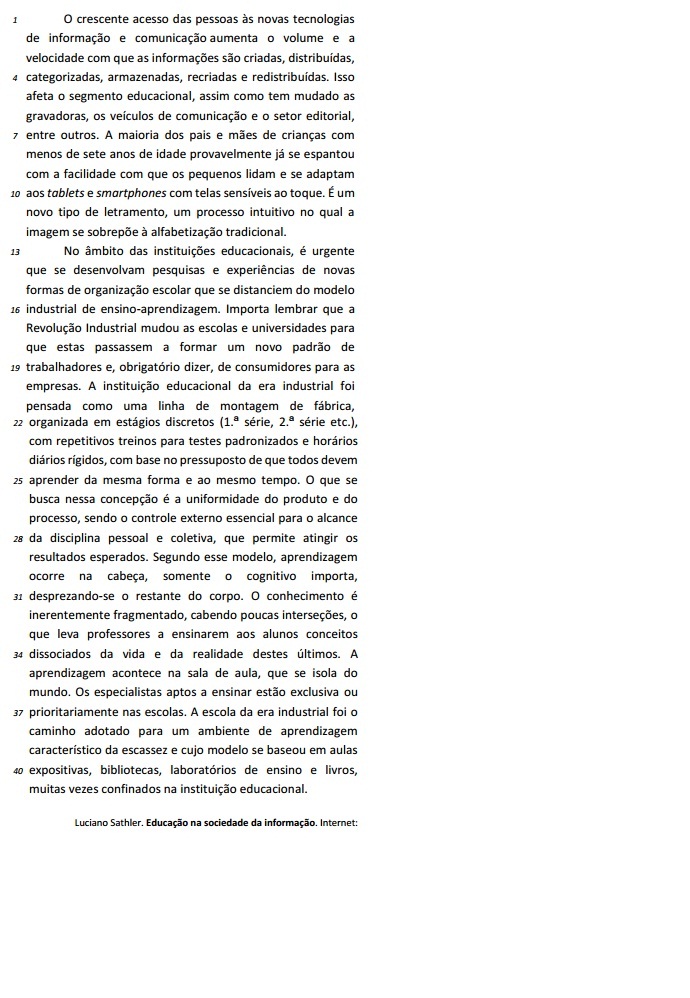Questões de Concurso
Sobre crase em português
Foram encontradas 6.712 questões
Texto 1

TE
De todas as coisas pequenas, estava ali a menor de todas que eu já tinha visto. Não porque ela sofresse dessas severas desnutrições africanas - embora passasse fome-, mas pelo que eu saberia dela depois.
Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente nua e suja, o nariz catarrento, o cabelo desgrenhado numa massa disforme, liso e sujo. Chorava alto, sentada no chão da sala escura. A casa de taipa tinha três cômodos pequenos. Isso que chamei de sala não passava de um espaço de 2 m por 2 m, sem janelas. Apenas a porta, aberta na parte de cima, jogava alguma luz no ambiente de teto baixo e chão batido.
Isso aconteceu na semana passada, num distrito de Sertânia, cidade a 350 km de Recife, no sertão de Pernambuco. A mãe e os outros seis filhos ficaram na porta a nos espreitar, os visitantes estranhos. O marido, carregador de estrume, ganhava R$ 20 por semana, o que somava R$ 80 por mês. Essa a renda do casal analfabeto. Nenhum dos sete filhos frequentava a escola. Não havia água encanada. Compravam a R$ 4 o tambor de 24 litros.
O choro da menina seguia atrapalhando a conversa.
- Ei, por que você está chorando? perguntei, enfiando a cabeça no vão da porta. A menina não ouviu, largada no chão.
- Ei! Vem cá, eu vou te dar um presente - repeti. Ela olhou para mim pela primeira vez. Mas não se mexeu, ainda chorando.
- Como é o nome dela? - perguntei à mulher.
-A gente chama ela de Te -disse, banguela.
-Te? Mas qual o nome dela?-insisti.
- A gente chama ela de Te, que ela ainda não foi batizada não.
- Como assim? Ela não tem nome? Não foi registrada no cartório?
- Não, porque eu ainda não fui atrás de fazer.
Te. Olhei de novo para a menina. Era a menor coisa do mundo, uma pessoa sem nome. Um nada. “Te” era antes da sílaba - era apenas um fonema, um murmúrio, um gemido. Entendi o choro, o soluço, o grito ininterrupto no meio da sala. A falta de nome impressionava mais do que a falta de todo o resto.
Te chorava de uma dor, de uma falta avassaladora. Só podia ser. Chorava de solidão, dessa solidão dos abandonados, dos que não contam para nada, dos que mal existem. Ela era o resultado concreto das políticas civilizadas (as econômicas, as sociais) e de todo o nosso comportamento animal: o de ir fazendo sexo e filhos como os bichos egoístas que somos, enfim.
Era como se aquele agrupamento humano (uma família?) vivesse num estágio qualquer pré- linguagem, em que nomear as coisas e as pessoas pouco importava. Rousseau diz que o homem pré-histórico não precisava falar para se alimentar. Não foi por causa da comida que surgiu a linguagem. “O fruto não desaparece de nossas mãos”, explica. Por isso não era necessário denominá-lo.
As primeiras palavras foram pronunciadas para exprimir o que não vemos, os sentimentos, as paixões, o amor, o ódio, a raiva, a comiseração. “Só chamamos as coisas por seus verdadeiros nomes quando as vemos em suas formas verdadeiras.” Só quando Te viu a coisa na minha mão se calou.
- Ei, Te, olha o que eu tenho para te dar!
Ela virou-se na minha direção. Fez-se um silêncio na sala. Era uma bala enrolada num papel verde, com letras vermelhas. Então ela se levantou, veio até a porta e pegou o doce, voltou para o mesmo lugar e recomeçou seu lamento.
Nem a bala serviu de consolo. Era tudo amargura. Só restava chorar, chorar e chorar por essa morte em vida, por essa falta de nome, essa desolação.
FELINTO, Marilene. Te. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan.
2001. Brasil, Cotidiano, p. C2.
Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:
I. No fragmento ‘"Só chamamos as coisas por seus verdadeiros nomes quando as vemos em suas formas verdadeiras.'” é obrigatório o uso de vírgula antes de QUANDO.
II. Obedecendo a regras de concordância, ao se passar a frase “Não havia água encanada.” para o plural, o verbo, por ser impessoal, permanecería no singular.
III. O autor cometeu claro equívoco quando omitiu o acento indicativo da crase no A do trecho “Então ela se levantou, veio até a porta e pegou o doce”.
Está correto apenas o que se afirma em:
São só contas de vidro
Os índios ficaram deslumbrados com as contas de vidro que os portugueses lhes davam. Por quê? Por causa da beleza dessas contas de vidro? Pouco provável. Para encontrar coisas belas, tudo o que os nativos tinham de fazer era olhar ao redor: as árvores, os pássaros, as flores. Mas as contas de vidro representavam duas coisas. Em primeiro lugar, eram novidade, coisa desconhecida por ali. Em segundo lugar, eram novidade, de uma tecnologia que os índios não dominavam e que, por isso, admiravam. Mais de cinco séculos se passaram e continuamos dominados pela mesma reverência à tecnologia. Exemplo: o automóvel tem absoluta prioridade em relação aos pedestres, mesmo em situações em que estes são vários e em que o veículo transporta uma única pessoa. Muitos brasileiros ficam assombrados ao saber que em Brasília os motoristas respeitam a faixa de segurança. Em outras cidades, faixa de segurança é mero detalhe, pouco importante diante da potência que é o automóvel. Isso também explica a quantidade de acidentes de trânsito que temos; a sensação de poder de que goza o motorista muitas vezes perturba sua capacidade de discernimento.
O verdadeiro progresso traz junto consigo os mecanismos de controle para esses excessos. Na Europa e nos Estados Unidos, os motoristas, em geral (claro que há numerosas exceções), dirigem com cautela, pela simples razão de que podem responder no tribunal por qualquer problema, até mesmo psicológico, que venham a causar a outras pessoas. A noção de espaço público lá está muito presente. No Brasil é diferente. Se o espaço é público, isso não significa que é de todos, que todos têm de cuidar dele; não, se o espaço é público, ele não é de ninguém. Nos cinemas brasileiros, celulares tocam com frequência e às vezes seus proprietários mantêm longas conversas, em voz alta, durante a exibição do filme. Os outros espectadores que se lixem. Existe aí um motivo adicional, além do desrespeito ao local coletivo. O telefone, no Brasil, ainda guarda a aura de um passado em que era privilégio de poucos. Conseguir uma linha era missão quase impossível. Quem tinha telefone tinha poder, e esta imagem, de certo modo, persiste. Infelizmente, porque poucos meios de comunicação são tão invasivos. Cartas e e-mails ficam pacientemente à nossa espera. O telefone, não. O telefone soa insistentemente, e temos de atender, não importa o que estejamos fazendo no momento – almoçando, tomando banho, fazendo amor. E quem liga também não dá bola para esses detalhes. A elementar pergunta – “Você pode falar? ” – raramente é feita. Ligação telefônica desloca para um segundo plano qualquer outra coisa. Digamos que você esteja sendo atendido por um funcionário no banco. Se tocar o telefone, você e todos os outros que estão esperando terão de se conformar: o funcionário atenderá à chamada, não raro longa.
O celular é ótima coisa. Pessoas que, por falta de telefone, ficavam em verdadeiro estado de marginalização social, agora podem se comunicar facilmente. Existe hoje uma verdadeira cultura do celular, mas ela, infelizmente, ainda não inclui a noção de respeito ao outro. Chegaremos lá, claro, se não mediante leis, como fazem os países mais adiantados, então pela evolução natural da arte do convívio. As pessoas aprendem. E um dia descobrem que as brilhantes contas de vidro são só isto: contas de vidro.
(SCLIAR, Moacyr. Do jeito que nós vivemos. Belo Horizonte: Ed. Leitura, 2007.)
Medo e preconceito
O tema é espinhoso. Todos somos por ele atingidos de uma forma ou de outra, como autores ou como objetos dele. O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica está nos tempos mais primitivos – por isso é uma postura primitiva –, em que todo diferente era um provável inimigo. Precisávamos atacar antes que ele nos destruísse. Assim, se de um lado aniquilava, de outro esse medo nos protegia – a perpetuação da espécie era o impulso primeiro. Hoje, quando de trogloditas passamos a ditos civilizados, o medo se revela no preconceito e continua atacando, mas não para nossa sobrevivência natural; para expressar nossa inferioridade assustada, vestida de arrogância. Que mata sob muitas formas, em guerras frequentes, por questões de raça, crença e outras, e na agressão a pessoas vitimadas pela calúnia, injustiça, isolamento e desonra. Às vezes, por um gesto fatal.
Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Talvez a ideia de que “ele é diferente, pode me ameaçar”, estimulada pela inata maldade do nosso lado de sombra (ele existe, sim).
Nossa agressividade de animais predadores se oculta sob uma camada de civilização, mas está à espreita – e explode num insulto, na perseguição a um adversário que enxovalhamos porque não podemos vencê-lo com honra, ou numa bala nada perdida. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas: uma delas, poderosa e sutil, é a palavra. Paradoxais são as palavras, que podem ser carícias ou punhais. Minha profissão lida com elas, que desde sempre me encantam e me assombram: houve um tempo, recente, em que não podíamos usar a palavra “negro”. Tinha de ser “afrodescendente”, ou cometíamos um crime. Ora, ao mesmo tempo havia uma banda Raça Negra, congressos de Negritude... e afinal descobrimos que, em lugar de evitar a palavra, podíamos honrá-la. Lembremos que termos usados para agredir também podem ser expressões de afeto. “Meu nego”, “minha neguinha”, podem chamar uma pessoa amada, ainda que loura. “Gordo”, tanto usado para bullying, frequentemente é o apelido carinhoso de um amigo, que assim vai assinar bilhetes a pessoas queridas. Ao mesmo tempo, palavras como “judeu, turco, alemão” carregam, mais do que ignorância, um odioso preconceito.
De momento está em evidência a agressão racial em campos esportivos: “negro”, “macaco” e outros termos, usados como chibata para massacrar alguém, revelam nosso lado pior, que em outras circunstâncias gostaríamos de disfarçar – a grosseria, e a nossa própria inferioridade. Nesses casos, como em agressões devidas à orientação sexual, a atitude é crime, e precisamos da lei. No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical. Me perdoem os seguidores da ideia de que até na escola devemos eliminar punições do “sem limites”. Não vale a desculpa habitual de “não foi com má intenção, foi no calor da hora, não deem importância”. Temos de nos importar, sim, e de cuidar da nossa turma, grupo, comunidade, equipe ou país. Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas.
“Isso não tem jeito mesmo”, me dizem também. Acho que tem. É possível conviver de forma honrada com o diferente: minha família, de imigrantes alemães aqui chegados há quase 200 anos, hoje inclui italianos, negros, libaneses, portugueses. Não nos ocorreria amar ou respeitar a uns menos do que a outros: somos todos da velha raça humana. Isso ocorre em incontáveis famílias, grupos, povos. Porque são especiais? Não. Simplesmente entenderam que as diferenças podem enriquecer.
Num país que sofre de tamanhas carências em coisas essenciais, não devíamos ter energia e tempo para perseguir o outro, causando-lhe sofrimento e vexame, por suas ideias, pela cor de sua pele, formato dos olhos, deuses que venera ou pessoa que ama. Nossa energia precisa se devotar a mudanças importantes que o povo reclama. Nestes tempos de perseguição, calúnia, impunidade e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha selvageria. Mudar é preciso.
(LUFT, Lya. 10 de setembro, 2014 – Revista Veja.)
Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.
Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.
Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.
Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.
Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.
(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)
Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas.
I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais.
II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos.
III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco.
O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em
Será a felicidade necessária?
Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas felicidade é pesada. Diante da pergunta ' 'Você é feliz?' ', dois fardos são lançados às costas do inquirido. O primeiro é procurar uma definição para felicidade, o que equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples satisfação de gozar de boa saúde até a conquista da bem-aventurança. O segundo é examinar-se, em busca de uma resposta. Nesse processo, depara-se com armadilhas. Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo; caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar, assim como a euforia pelo aumento de salário, e se há algo imprescindível, na difícil conceituação de felicidade, é o caráter de permanência. Uma resposta consequente exige colocar na balança a experiência passada, o estado presente e a expectativa futura. Dá trabalho, e a conclusão pode não ser clara.
Os pais de hoje costumam dizer que importante é que os filhos sejam felizes. É uma tendência que se impôs ao influxo das teses libertárias dos anos 1960. E irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. Ora, felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e ambições que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que atinja o enlevo místico dos santos. Não dá para preencher caderno de encargos mais cruel para a pobre criança. ' 'É a felicidade necessária?' ' é a chamada de capa da última revista New Yorker (22 de março) para um artigo que, assinado por Elizabeth Kolbert, analisa livros recentes sobre o tema. No caso, a ênfase está nas pesquisas sobre felicidade (ou sobre ' 'satisfação' ', como mais modestamente às vezes são chamadas) e no impacto que exercem, ou deveriam exercer, nas políticas públicas. Um dos livros analisados, de autoria do ex-presidente de Harvard Derek Bok (The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being), constata que nos últimos 35 anos o PIB per capita dos americanos aumentou de 17000 dólares para 27 000, o tamanho médio das casas cresceu 50% e as famílias que possuem computador saltaram de zero para 70% do total. No entanto, a porcentagem dos que se consideram felizes não se moveu. Conclusão do autor, de lógica irrefutável e alcance revolucionário: se o crescimento econômico não contribui para aumentar a felicidade, ' 'por que trabalhar tanto, arriscando desastres ambientais, para continuar dobrando e redobrando o PIB?' '.
Outro livro, de autoria de Carol Graham, da Universidade de Maryland (Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires), informa que os nigerianos, com seus 1400 dólares de PIB per capita, atribuem-se grau de felicidade equivalente ao dos japoneses, com PIB per capita 25 vezes maior, e que os habitantes de Bangladesh se consideram duas vezes mais felizes que os da Rússia, quatro vezes mais ricos. Surpresa das surpresas, os afegãos atribuem-se bom nível de felicidade, e a felicidade é maior nas áreas dominadas pelo Talibã. Os dois livros vão na mesma direção das conclusões de um relatório, também citado no artigo da New Yorker, preparado para o governo francês por dois detentores do Nobel de Economia, Amartya Sen e Joseph Stiglitz. Como exemplo de que PIB e felicidade não caminham juntos, eles evocam os congestionamentos de trânsito, ' 'que podem aumentar o PIB, em decorrência do aumento do uso da gasolina, mas não a qualidade de vida' '.
Embora embaladas com números e linguagem científica, tais conclusões apenas repisariam o pedestre conceito de que dinheiro não traz felicidade, não fosse que ambicionam influir na formulação das políticas públicas. O propósito é convidar os governantes a afinar seu foco, se têm em vista o bem-estar dos governados (e podem eles ter em vista algo mais relevante?). Derek Bok, o autor do primeiro dos livros, aconselha ao governo americano programas como estender o alcance do seguro-desemprego (as pesquisas apontam a perda de emprego como mais causadora de infelicidade do que o divórcio), facilitar o acesso a medicamentos contra a dor e a tratamentos da depressão e proporcionar atividades esportivas para as crianças. Bok desce ao mesmo nível terra a terra da mãe que trocasse o grandioso desejo de felicidade pelo de uma boa faculdade e um bom salário para o filho.
(Roberto Pompeu de Toledo. Veja, ed. 2157, 24 mar. 2010)
Aposentadoria feliz: idosos criam repúblicas para viver entre amigos
A amizade de Victor Gomes e Cruz Roldán tem 46 anos. Conheceram-se em uma excursão na Serra Nevada, na Espanha, com um grupo de caminhada. “Mas era mais do que isso, era um grupo de estilo de vida”, relembra Roldán, hoje com 79 anos. Quando estavam com meio século de vida, perguntaram-se: “por que não nos vemos envelhecer?". Quinze anos depois, moram com suas respectivas esposas em Convivir, uma república autogerida na cidade espanhola de Cuenca. Dezenas de amigos e familiares se entusiasmaram quando os dois casais de amigos propuseram a ideia de viver juntos, e hoje são 87 sócios que se identificam com o lema “dar vida à idade”.
O condomínio conta com todos os serviços de um asilo para idosos tradicional. “Mas não ficamos sentados o dia todo em uma cadeira entre desconhecidos” , explicou um dos amigos. Compartilham tarefas, mantêm-se ativos, mas conservam sua independência.
A velhice chega mais tarde hoje, mas pensa-se nela desde cedo. Os mais velhos atualmente - especialmente europeus e japoneses - vivem mais e não querem passar a última fase da vida entre desconhecidos ou “ser uma carga para os filhos”. É o que demonstra um estudo de 2015, realizado pelo ministério da Saúde espanhol, no qual mais da metade dos pesquisados acha pouco provável viver em um asilo, enquanto quatro em cada dez veem como alternativa o cohousing. São moradias criadas e administradas pelos próprios idosos, que decidem entre amigos como e onde querem viver sua aposentadoria. Os apartamentos pertencem a uma cooperativa, mas podem ser deixados de herança para os filhos. Na Espanha, há oito projetos construídos e vários em gestação.
[...] A idade media é de 70 anos, mas respira-se um ambiente juvenil. [...]
Todas as residências de cohousing devem cumprir os requisitos de um ambiente tradicional para idosos: banheiros geriátricos, móveis sem quinas, botões de emergência em todos os quartos, entre outras coisas.
Diferentemente da situação em Convivir, onde todos que querem um apartamento devem ter um conhecido e ser sócio, em Trabensol a oferta é para o público em geral. Entretanto, ainda custa caro viver em uma república para idosos. [...]
Das experiências espanholas, os defensores concordam que os interessados se aproximam mais dos 50 que dos 70 anos. Nemesio Rasillo, um dos fundadores da residência Brisa Del Cantábrico, onde a idade média é de 63 anos, atribui isso a que “os mais idosos passam ao cuidado familiar”. Mas há muitos adultos que ainda não se aposentaram e já têm claro que não querem ser “uma carga para seus filhos”. Nesta residência, uma das normas é poder haver no máximo 15 pessoas nascidas no mesmo ano, para garantir a variedade geracional. Cada cooperativa tem suas regras, mas uma que se repete em relação à questão da dependência é que desde que um residente se soma ao projeto, parte de seu dinheiro vai para um fundo social. “Assim, quando algum dos colegas precisar de uma assistência especial, dividimos entre todos e não será um gasto expressivo”,explica Roldán.
É a hora da siesta em Cuenca, e “o castelo do século XXI”, como o chamam os moradores de Convivir, parece ter parado no tempo. Ninguém circula pelos longos corredores dos dois andares, as raquetes de pingue-pongue descansam sobre a mesa e o salão de beleza está fechado a chave. É o momento de desfrutar do apartamento que cada um decorou a seu gosto. “Em vez de meu filho se tornar independente, eu é que me tornei”, diz em voz baixa Luis de La Fuente, enquanto fecha a porta de seu novo lar.
Antonia Laborde. (Disponível em: brasil.elpais.com. Acesso em
10jan2017)
I. Na frase “a marchinha realça a ambiguidade das relações raciais, ao mesmo tempo em QUE ilustra a opção nacional pela aparência”, o termo destacado retoma o vocábulo MARCHINHA. II. Em “A título de exemplo, desde a primeira metade do século passado, a Lei das Estatísticas Criminais prevê a classificação racial de vítimas e acusados por meio do critério da cor.” o autor cometeu um equívoco ao não registrar o sinal indicativo de crase no primeiro A. III. Na frase “ESSE sistema funciona perfeitamente bem no Brasil desde tempos imemoriais.”, a palavra destacada possui valor anafórico.
Está correto o que se afirma apenas em:
No que se refere aos aspectos linguísticos do texto acima e à literatura brasileira, julgue o item a seguir.
O emprego do sinal indicativo de crase em “à sua vista”
(linha 17) deve-se à regência da forma verbal “despia”
<https://corporate.canaltech.com.br>(com adaptações).
Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue.
Na linha 1, caso se suprima o artigo definido que
determina “novas tecnologias de informação e
comunicação”, deve-se suprimir também o acento grave,
indicativo de crase: a novas tecnologias de informação e
comunicação.
Quando comparado ____ outras aves, os tucanos parecem ser bem maiores ____quem os observa ____ voar na natureza.
As lacunas da frase acima, estarão corretamente preenchidas, na ordem, por:
Instrução: A questão a seguir está relacionada ao texto abaixo.