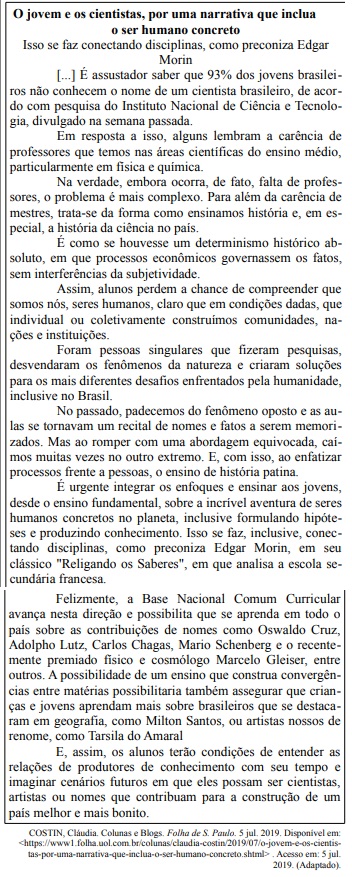Questões de Português - Denotação e Conotação para Concurso
Foram encontradas 1.728 questões
A fórmula chinesa
A China vai virar uma democracia? Liberais, especialmente os da vertente institucionalista, apostam que ou ela se transforma numa sociedade aberta ou verá o fim de sua pujança econômica. Pequim, porém, parece empenhada em desmentir os liberais.
Um resumo rápido do último quinquênio sob a liderança de Xi Jinping é que o dirigente, que acaba de ser escolhido para permanecer mais cinco anos à frente do Partido Comunista chinês, conseguiu concentrar poderes e sufocar as tímidas tentativas de abertura, tudo isso sem ameaçar o crescimento.
Os liberais, porém, não precisam, por enquanto, atirar a toalha. Como nunca deram um prazo preciso para que sua profecia se concretizasse, não foram formalmente contraditados. É até possível que tenham razão e que, em horizontes mais dilatados, a China ou promova uma abertura ou sofra um apagão econômico.
O pressuposto teórico dessa tese é bastante razoável. A prosperidade sustentável, afinal, depende de um fluxo constante de inovações e ganhos de produtividade que são coibidos quando indivíduos não podem trocar ideias livremente.
Dá para construir uma boa argumentação mostrando que esse foi um grande problema na antiga URSS e contribuiu para seu ocaso* econômico.
O ponto central é descobrir se a liberdade é condição necessária para o desenvolvimento científico e econômico ou só um tempero desejável. Gostaria de acreditar na primeira alternativa, mas receio que ela não passe de um desejo liberal. Não me parece “a priori” impossível criar um sistema fortemente autoritário na política e suficientemente liberal nas áreas científicas. A China pelo menos tem conseguido.
(Hélio Schwartsman. Folha de São Paulo. 27.10.2017. Adaptado)
* enfraquecimento que leva à destruição; perda de influência, de poder; decadência.
Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos. É preciso considerar esse fato para se compreenderem exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até mesmo depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje.
Se [...] não foi a rigor uma civilização agrícola o que os portugueses instauraram no Brasil, foi, sem dúvida, uma civilização de raízes rurais. É efetivamente nas propriedades rústicas que toda a vida da colônia se concentra durante os séculos iniciais da ocupação europeia: as cidades são virtualmente, se não de fato, simples dependências delas. Com pouco exagero pode dizer-se que tal situação não se modificou essencialmente até à Abolição. 1888 representa o marco divisório entre duas épocas; em nossa evolução nacional, essa data assume significado singular e incomparável.
Na Monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram filhos de fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem monopolizava a política, elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições de mando, e fundando a estabilidade das instituições nesse incontestado domínio.
Tão incontestado, em realidade, que muitos representantes da classe dos antigos senhores puderam, com frequência, dar-se ao luxo de inclinações antitradicionalistas e mesmo empreender alguns dos mais importantes movimentos liberais que já operaram em nossa história. A eles, de certo modo, também se deve o bom êxito de progressos materiais que tenderiam a arruinar a situação tradicional, minando aos poucos o prestígio de sua classe e o principal esteio em que descansava esse prestígio, ou seja, o trabalho escravo.
(HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p.85-86)
A eles, de certo modo, também se deve o bom êxito de progressos materiais que tenderiam a arruinar a situação tradicional, minando aos poucos o prestígio de sua classe e o principal esteio em que descansava esse prestígio, ou seja, o trabalho escravo. (4° parágrafo)
Os termos sublinhados estão empregados, respectivamente, em sentido
Um boi vê os homens
Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de [alguma coisa.
Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial,
posto se apresentem nobres e graves, por vezes.
Ah, espantosamente graves, até sinistros.
Coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar
nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar
o que é visível e comum a cada um de nós, no espaço.
E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos –
e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
e que secura e que reentrâncias e que impossibilidade
de se organizarem em formas calmas, permanentes e [necessárias.
Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto)
e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o [translúcido vazio interior
que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos [e agônicos:
desejo, amor, ciúme (que sabemos nós),
sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto,
é ruminarmos nossa verdade.
(Carlos Drummond de Andrade. Reunião: 10 livros de poesia. Ed. José Olympio. São Paulo, 1977)
Atenção: Considere o texto abaixo para responder a questão.
No livro A velhice, Simone de Beauvoir não apresenta muitas alternativas para construir um olhar positivo sobre a última fase da vida. Ela tem como propósito fundamental denunciar a conspiração do silêncio e revelar como a sociedade trata os velhos: eles costumam ser desprezados e estigmatizados. Apesar de ter consciência de que são inúmeros os problemas relacionados ao processo de envelhecimento, quero compreender se existe algum caminho para chegar à última fase da vida de uma maneira mais plena e mais feliz. Encontro na própria Simone de Beauvoir a resposta para esta questão. Ela sugere, nas entrelinhas de A velhice, um possível caminho para a construção de uma “bela velhice”: o projeto de vida.
No Brasil temos vários exemplos de “belos velhos”: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Mato grosso, Chico Buarque, Marieta Severo, Rita Lee, entre outros. Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já chegaram ou estão chegando aos 70 anos, um retrato negativo do envelhecimento. São típicos exemplos de pessoas chamadas “sem idade”.
Fazem parte de uma geração que não aceitará o imperativo “Seja um velho!” ou qualquer outro rótulo que sempre contestaram. São de uma geração que transformou comportamentos e valores de homens e mulheres, que inventou diferentes arranjos amorosos e que legitimou novas formas de família. Esses “belos velhos” inventaram um lugar especial no mundo e se reinventam permanentemente. Continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus. Não se aposentaram de si mesmos, recusaram as regras que os obrigariam a se comportar como velhos. Não se tornaram invisíveis, infelizes, deprimidos. Eles, como tantos outros “belos velhos”, rejeitam estereótipos e dão novos significados ao envelhecimento. Como diz a música de Arnaldo Antunes, “Somos o que somos: inclassificáveis”.
Desde muito cedo, somos livres para fazer escolhas. “A liberdade é o que você faz com o que a vida fez com você”. Esta máxima existencialista é fundamental para compreender a construção de um projeto de vida. O projeto de cada indivíduo pode ser traçado desde a infância, mas também pode ser construído ou modificado nas diferentes fases da vida, pois a ênfase existencialista se coloca no exercício permanente da liberdade de escolha e da responsabilidade individual na construção de um projeto de vida que dê significado às nossas existências até os últimos dias.
(Adaptado de: GOLDENBERG, Mirian. A bela velhice. Record. edição digital)
eles costumam ser desprezados e estigmatizados. (1º parágrafo)
ou qualquer outro rótulo que sempre contestaram. (2º parágrafo)
Continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus. (3º parágrafo)
Os termos sublinhados acima estão empregados, respectivamente, em sentido
Analise as sentenças a seguir:
I- Os ambientalistas conseguiram enjaular a fera depois de muito trabalho.
II- Há quem acredite em anjos.
III- Por tanta crueldade, o agressor só pode ser um monstro!
IV- Tomei um choque ao juntar os fios elétricos.
V- O calor humano está em falta nos dias de hoje. A respeito dos significados denotativos e conotativos das sentenças acima, assinale a alternativa que, respectivamente, relaciona esses significados:

Leia o texto para responder a questão.
O gosto na era do algoritmo
Às segundas-feiras pela manhã, os usuários do Spotify (serviço de transferência de dados via internet que dá acesso a músicas e outros conteúdos de artistas) recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de dados cinematográficos, como a Netflix, começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando os dados gerados por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis.
O algoritmo, sustentam seus críticos, nos torna chatos, previsíveis, e empobrece nossa curiosidade por explorar o acervo cultural. Ramón Sangüesa, coordenador do Data Transparency Lab (Laboratório de Transparência de Dados), consegue ver vantagens, mas também riscos. “Esses sistemas se baseiam no passado para predizer o futuro. A primeira dificuldade é conseguir a massa crítica para que tenhamos mais dados e as projeções sejam melhores. Mas sempre se corre o risco de ficar em uma mesma área de recomendação. No consumo cultural, o perigo está na uniformização do gosto, o que chamamos de filtro bolha. E assim vão sendo criados comportamentos padronizados”, afirma.
A questão, no entanto, é se os limites impostos na aprendizagem pelos sistemas fechados de computação são equiparáveis aos erros e possíveis idiotices que cometemos durante anos formando nosso próprio gosto. O escritor Eloy Fernández Porta não vê grande diferença. Segundo ele, antes do Spotify e fora dele o gosto já vinha determinado por critérios de acesso, aceitação, atualidade e distinção. “Sempre vivemos a música em um algoritmo, o que acontece é que em vez de chamá-lo de matemática o chamamos de espontaneidade. O algoritmo do Spotify não me parece menos confiável do que a fórmula caótica que cada ouvinte inventou. Nem menos humano: quando fazemos analogias erradas ou nos empenhamos em recomendar o primeiro disco de Vincent Gallo, nossas sinapses estão dando os mesmos maus passos”, afirma.
(Daniel Verdú. https://brasil.elpais.com/brasil/. 09.07.2016. Adaptado)
Leia o texto para responder à questão.
Quando criança, lembro da carroça passando em casa para deixar lenha; agora, seis décadas depois, todo dia toca a campainha e alguém oferece gás. A pequena mudança da energia que move o fogão caseiro simboliza o acelerado processo de transformação do Brasil. Do pacato país rural que abria os anos 1950, nos transformamos num país predominantemente urbano, que vive e produz inchado em grandes centros.
A cidade grande é um espaço abstrato, uma criação geométrica, que nos arranca de todos os laços mentais de natureza e vizinhança; a comunidade urbana é antes mental que física. Os compartimentos culturais e sociais isolados acabam por se tornar imperativos. Ao mesmo tempo, a grande cidade é a confluência do mundo; seu sonho é sair de si mesma e conversar com suas iguais, que estão em outros países, e não a dez quilômetros dali. A cidade é sempre globalizante; ela parece afirmar, com alguma arrogância, o triunfo do homem sobre a natureza, enquanto o campo é naturalmente conservador, como alguém que se submete, pela simples proximidade física, pela vizinhança avassaladora e pelo império do tempo, às regras simples, recorrentes, imutáveis e inexoráveis das estações do ano, das chuvas e secas.
Metaforicamente, o Brasil vive com um pé no campo e outro na cidade.
(Cristovão Tezza. “Mundo rural, mundo urbano, e o Brasil no meio”. 27.10.2014. www.gazetadopovo.com.br. Adaptado)
Leia o trecho da crônica para responder a questão.
O que nos distancia e nos faz ignorar que somos uma só espécie? Como aceitamos abismos sociais tão cruéis?
A razão desses questionamentos foi um jovem adolescente na mesa ao lado da minha na padaria onde tomei o café da manhã antes de ir ao trabalho. Ainda que bem arrumado e cabelo penteado, percebia-se que era um rapaz economicamente vulnerável, humilde.
Ele tinha na mesa uma xícara de café, como eu, e um pão provavelmente recheado de presunto e queijo. Mas o que me chamou a atenção para aquela quase criança foi que, enquanto alguns na padaria conversavam em suas mesas, todos os demais aproveitavam para mexer no celular, menos ele. O rapaz comia o pão e tomava o café, olhando para a mesa à sua frente e para o vazio da parede adiante.
Ele estava inibido, pois parecia não sentir pertencer àquele lugar. Por que afinal ele não apanhava seu celular e começava a dedilhar nele, mandando mensagens, postando fotos? Concluí que ele não tinha um celular. Sua situação de pobreza não devia permitir esse prazer. E isso o incomodava.
Diferentemente do que se pode esperar de adultos, conscientes de seu lugar no mundo e seguros o suficiente para sentarem-se sozinhos à mesa de qualquer lugar e desfrutar o momento independentemente de um aparelho tecnológico nas mãos, os adolescentes não possuem ainda segurança e autoestima consolidadas. Mais do que os outros, eles buscam aceitação, mesmo que tentando ser diferentes.
Para aquele rapaz, o fato de não ter a que se ater, além da comida, num mundo onde as redes tecnológicas estão presentes nos quatro cantos, o chateava. E acabou por também me constranger: que mundo difícil esse que cria consumidores e não cidadãos.
Guardei meu celular no bolso e, sem mais, tomei meu café, olhando para a mesa à minha frente e para o vazio da parede adiante.
(João Marcos Buch. O café que nos une. 12.09.2017. Adaptado)
Crônicas da cidade, a partir da poltrona do barbeiro
Nenhuma brisa faz tilintar a bacia de latão pendurada em um arame, sobre o oco da porta, anunciando que aqui se faz barba, arranca-se dente e aplica-se ventosa.
Por mero hábito, ou para sacudir-se da sonolência do verão, o barbeiro andaluz discursa e canta enquanto acaba de cobrir de espuma a cara de um cliente. Entre frases e bulícios, sussurra a navalha. Um olho do barbeiro vigia a navalha, que abre caminho no creme, e outro vigia os montevideanos que abrem caminho pela rua poeirenta. Mais afiada é a língua que a navalha, e não há quem se salve das esfoladuras. O cliente, prisioneiro do barbeiro enquanto dura a função, mudo, imóvel, escuta a crônica de costumes e acontecimentos e de vez em quando tenta seguir, com o rabo do olho, as vítimas fugazes.
Passa um par de bois, levando uma morta para o cemitério. Atrás da carreta, um monge desfia o rosário. À barbearia chegam os sons de algum sino que, por rotina, despede a defunta de terceira classe. A navalha para no ar. O barbeiro faz o sinal-da-cruz e de sua boca saem palavras sem desolação:
– Coitadinha. Nunca foi feliz.
O cadáver de Rosalia Villagrán está atravessando a cidade de Montevidéu, ocupada pelos inimigos de Artigas. Há muito que ela acreditava que era outra, e achava que vivia em outro tempo e em outro mundo, e no hospital de caridade chegava-se às paredes e esquadrinhava-as e discutia com as pombas. Rosalia Villagrán, esposa de Artigas, entrou na morte sem uma moeda que lhe pagasse o ataúde ou alguém que dela se apiedasse.
(Eduardo Galeano, Mulheres. Adaptado)
Leia o texto para responder a questão.
Há uma razão simples para o manual de escrita de William Zinsser ter se tornado um best-seller e um clássico contemporâneo: o livro é ótimo.
“Como Escrever Bem” difere de guias de redação convencionais que reinavam absolutos na literatura americana desde 1959. Não que ele menospreze gramática e técnica. Voltado para a não ficção, o manual cobre fundamentos do estilo de texto jornalístico aperfeiçoado nos EUA ao longo do século 20 e elevado a arte nos anos 1960.
Não faltam conselhos para fugir da geleia de mediocridade à qual tende toda escrita, como vem provando mais uma vez a safra internética: perseguir clareza e simplicidade, valorizar verbos e substantivos, desconfiar de adjetivos e advérbios, reescrever, cortar tudo que for supérfluo, pulverizar clichês e palavras pomposas etc.
São lições importantes, mas batidas, que Zinsser revitaliza com frases lapidares: “Não há muita coisa a ser dita sobre o ponto final, a não ser que a maioria dos escritores não chega a ele tão cedo quanto deveria”. Ou ainda: “Poucas pessoas se dão conta de como escrevem mal”.
Contudo, o livro é melhor quando vai além da técnica, revelando um autor apaixonado que não se furta de tomar partido e expor idiossincrasias*. O ofício de escrever aparece como algo vivo, condicionado por miudezas objetivas e complicações subjetivas.
A questão do gosto, tão difícil de definir quanto de ignorar, tem sido tratada como falsa pelo pensamento acadêmico. O autor não foge da briga: “O gosto é uma corrente invisível que atravessa a escrita, e você precisa estar ciente dele”.
A tradução, correta e fluida em linhas gerais, tem o mérito maior de preservar o humor de Zinsser. Inevitavelmente, há momentos em que a obra perde na transposição, como ao tratar de modismos e inovações vocabulares do inglês. Nada que passe perto de empanar o brilho de um livro necessário como nunca.
* Idiossincrasia: predisposição de um indivíduo para reagir de maneira pessoal à influência de agentes exteriores.
(Sérgio Rodrigues. Com frases lapidares, autor ensina a fugir da escrita medíocre. Folha de S.Paulo, 12.01.2018.Adaptado)
Considere o texto e a foto seguintes para responder à questão.

Almoço com as estrelas
Já houve muita discussão sobre a autenticidade de uma das fotos mais famosas de todos os tempos: Lunch atop a skyscraper (algo como Almoço no topo de um arranha-céu). A teoria mais escandalosa é que a foto seria uma montagem. Não é. Nos anos 30, quando foi tirada, não havia tecnologia para forjar os personagens num fundo falso. O negativo é de vidro e encontra-se nos cofres da Agência Corbis.
Outra teoria: os onze operários estariam ali protegidos por redes. Não. Estão correndo risco, ainda que tenham topado posar para a foto. Ou seja, não apareceu um fotógrafo do nada ao meio-dia de 20 de setembro de 1932 e simplesmente flagrou o almoço da rapaziada. Até porque fotógrafos e modelos estão a quase 250 m de altura, na estrutura de um edifício na Rua 48, em Nova York.
Naquele dia, três fotógrafos estiveram na construção, segundo Ken Johnston, diretor de fotos históricas da Corbis.
A foto, hoje atribuída a Charles C. Ebbets, foi publicada no dia 2 de outubro de 1932, no jornal The New York Herald Tribune, e trazia a legenda: “Enquanto milhares de nova-iorquinos se apressam em restaurantes e lanchonetes fervilhantes de clientes, esses trabalhadores intrépidos obtêm todo o ar e liberdade que querem almoçando sobre uma viga de aço”.
(Aventuras na História, dezembro de 2012. Adaptado)