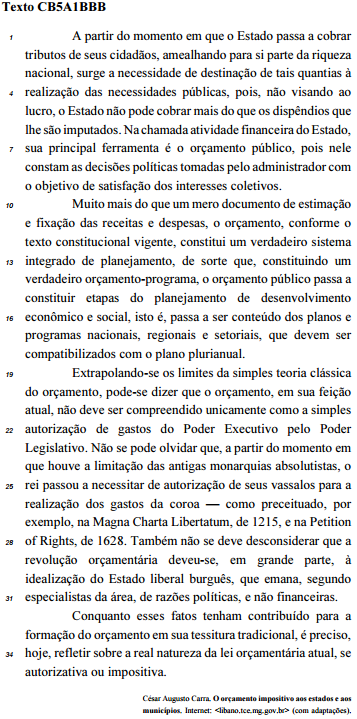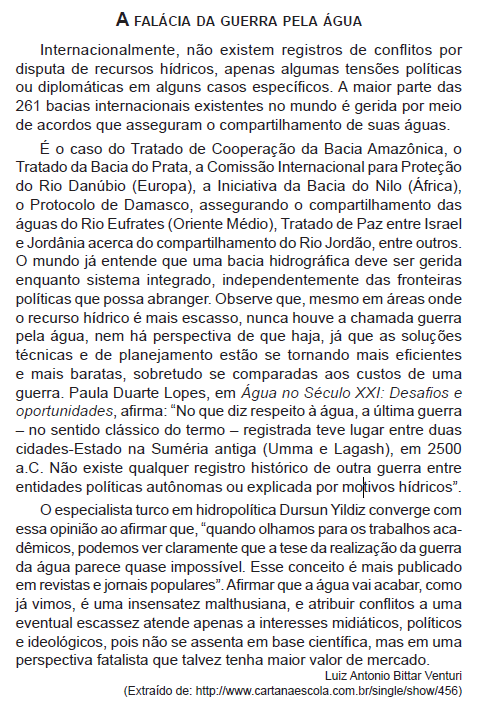Questões de Concurso
Sobre conjunções: relação de causa e consequência em português
Foram encontradas 4.688 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Eu ia, atento e presente, em busca de um bonde e de Jandira. Foi só ouvir uma sanfona, perdi o bonde, perdi o rumo, perdi Jandira. Fiquei rente do cego da sanfona, não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas que eles foram acordar na minha escassa memória musical.
ANJOS, C. dos. O amanuense Belmiro. Rio de Janeiro: J. Olympio. 1975.
O “se” utilizado no texto é
Assinale a opção que indica a frase machadiana em que a conjunção “e” tem valor adversativo.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:
Todos os candidatos ao processo seletivo sabem_____ é importante estudar muito,_______ são poucas vagas e a concorrência é grande.
Julgue o item seguinte, com relação aos aspectos linguísticos do texto CB5A1BBB.
A expressão “de sorte que” (l.13) denota algo positivo, tendo
sido empregada no texto para defender o lado positivo de o
orçamento público constituir um “orçamento-programa” (l.14).
________vivendo a 26 mil anos-luz da Via Láctea, é impossível tirarmos uma foto do tamanho da galáxia. Conhecemos o seu formato espiral, ________, por conta de referências utilizadas pelos cientistas, como as regiões de nuvens de gás chamadas de HII, ________ estrelas luminosas e aglomerados de jovens estrelas, é possível desenhar o aspecto da galáxia________ base nos cálculos de distância entre os diferentes corpos.
Há palavras que servem para ligar outras palavras, expressões e partes do texto, são as preposições e conjunções. Quais palavras preenchem correta e respectivamente as lacunas do texto?
Leia o texto abaixo e responda à questão proposta.
O Brasil é minha morada
1 Permita-me que lhes confesse que o Brasil é a minha morada. O meu teto quente, a minha sopa fumegante. É casa da minha carne e do meu espírito. O alojamento provisório dos meus mortos. A caixa mágica e inexplicável onde se abrigam e se consomem os dias essenciais da minha vida.
2 É a terra onde nascem as bananas da minha infância e as palavras do meu sempre precário vocabulário. Neste país conheci emoções revestidas de opulenta carnalidade que nem sempre transportavam no pescoço o sinete da advertência, justificativa lógica para sua existência.
3 S e m dúvida, o Brasil é o paraíso essencial da minha memória. O que a vida ali fez brotar com abundância, excedeu ao que eu sabia. Pois cada lembrança brasileira corresponde à memória do mundo, onde esteja o universo resguardado. Portanto, ao apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana, sou egípcia, sou hebraica. Sou todas as civilizações que aportaram neste acampamento brasileiro.
4 Nesta terra, onde plantando-se nascem a traição, a sordidez, a banalidade, também afloram a alegria, a ingenuidade, a esperança, a generosidade, atributos alimentados pelo feijão bem temperado, o arroz soltinho, o bolo de milho, o bife acebolado, e tantos outros anjos feitos com gema de ovo, que deita raízes no mundo árabe, no mundo luso.
5 Deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres mentirosos. Seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas, africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. Criaturas que, afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu tempo, acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira só pelo prazer de dedilhar as cordas da guitarra e do coração.
6 Neste litoral, que foi berço de heróis, de marinheiros, onde os saveiros da imaginação cruzavam as águas dos mares bravios em busca de peixes, de sereias e da proteção de Iemanjá, ali se instalaram civilizações feitas das sobras de outras tantas culturas. Cada qual fincando hábitos, expressões, loucas demências nos nossos peitos.
7 Este Brasil que critico, examino, amo, do qual nasceu Machado de Assis, cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza. Mas como poderia este mulato, este negro, este branco, esta alma miscigenada, sempre pessimista e feroz, acatar uma existência que contrariava regras, previsões, fatalidades? Como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o Brasil, ser sua face, soçobrar com ele e revivê-lo ao mesmo tempo?
8 Fomos portugueses, espanhóis e holandeses, até sermos brasileiros. Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Inventora, cada qual, de uma nação foragida da realidade mesquinha, uma espécie de ficção compatível com uma fábula que nos habilite a frequentar com desenvoltura o teatro da história.
(PIÑON, Nélida. Aprendiz de Homero. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008, p. 241-243, fragmento.)
Texto IV
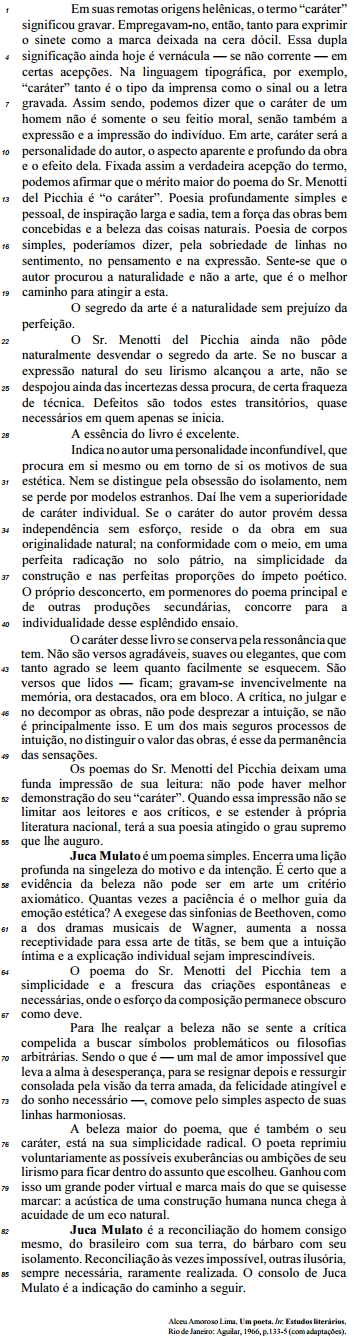
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto IV, julgue (C ou E) o item a seguir.
Seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do
trecho “se bem que a intuição íntima e a explicação individual
sejam imprescindíveis” (l. 62 e 63), caso a expressão “se bem
que” e a forma verbal “sejam” fossem substituídas,
respectivamente, pelo termo porquanto e pela forma verbal
são.
Texto III
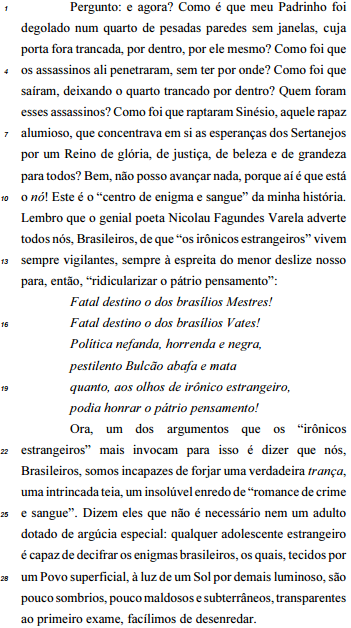

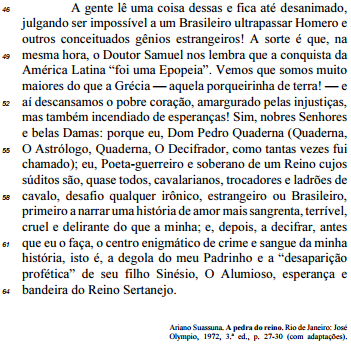
Com referência ao texto III, julgue (C ou E) os itens que se seguem
No trecho “porque eu, Dom Pedro Quaderna” (l.54), a
conjunção “porque” é expressão de realce, empregada de modo
expletivo, visto que não estabelece relação entre a oração que
ela introduz e outra oração do período.
Texto III
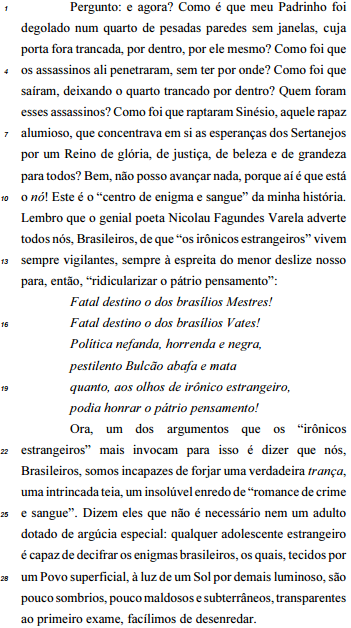

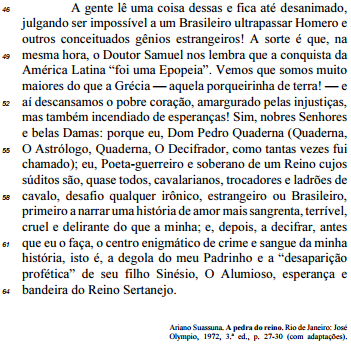
Com referência ao texto III, julgue (C ou E) o item que se segue.
Sem prejuízo da informação veiculada no relato e da correção
gramatical do texto, a vírgula empregada logo após “janelas”
(l.2) poderia ser substituída pelo conector e.
Texto 2
1 Para o Brasil o homem da África foi trazido principalmente como mão de obra: a mão de obra capaz de substituir o indígena, pois este não estava afeito ao trabalho sedentário e de rotina da lavoura. (...)
2 Foi particularmente o escravo que influiu na organização econômica e social do Brasil, constituindo a escravidão uma daquelas três forças – as outras duas, a monocultura e o latifúndio – que caracterizam o processo de exploração da nova terra portuguesa; e que fixaram igualmente a paisagem social da vida de família ou coletiva no Brasil. Esta distinção já a fazia Joaquim Nabuco, em 1881, antecipando-se assim aos modernos estudos de interpretação antropológica ou sociológica sobre o negro: “o mau elemento da população não foi a raça negra, mas essa raça reduzida ao cativeiro”, escreveu ele em “O Abolicionismo”.
3 Essa situação de escravo, portanto, marca como traço fundamental e indispensável de ser assinalada a presença do negro africano no Brasil; a influência não foi do negro em si, mas do escravo e da escravidão, já observou Gilberto Freyre. Como escravo, e por causa da escravidão, o negro africano teve sua vida perturbada; dela afastado bruscamente, misturou-se com outros grupos culturais. Esta circunstância contribuiu para que os valores culturais de que era portador fossem prejudicados em sua completa autenticidade ao se integrar no Brasil.
4 Não puderam os escravos negros manter íntegra sua cultura, nem utilizar preferentemente suas técnicas em relação ao novo meio. Não foi possível aos negros revelarem e aplicarem todo o seu conjunto cultural: ou porque, ao contato com outros grupos negros, receberam ou perderam certos elementos culturais, ou porque, como escravos, tiveram sua cultura deturpada. Daí os sincretismos e os processos transculturativos.
5 Talvez este fato tenha concorrido para fazer com que no novo meio nem sempre fosse o negro um conformado; um joão-bobo que aceitasse pacificamente o que lhe era imposto. Foi, ao contrário, e por vezes através de processos bastante expressivos – e o caso dos Palmares é típico –, um rebelado.
(JÚNIOR, M. Diégues. Etnias e culturas no Brasil. 4 ed.: Rio, Paralelo, INL, 1972, p. 85-6.)
Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório.”
I. “Quando” é conjunção subordinativa.
II. “Quando” é conjunção integrante.
III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.
IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética adversativa de “é obrigatório”.
A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.